A arte de fazer e receber visitas

Plinio
Aos quatro ou cinco anos de idade, eu conheci um mundo que preparava e tinha em si todos os germes do presente, mas cuja aparência externa, para o olhar de um menino, era muito próxima da tradição medieval.
Por exemplo, eu tratava com pessoas que mantinham todas as aparências de respeitabilidade convenientes aos mais velhos, mas, sem serem hipócritas, estavam divididas entre a tradição que herdaram e um mundo novo, hostil a ela. Conservavam certa afeição por esse passado, mas também alimentavam uma atração pela inimica vis [força inimiga], moderna e cinematográfica, que tentava deformar os aspectos tradicionais da vida. Oscilavam de um estado de espírito para o outro e, com freqüência, emergiam neles restos de tradição autêntica, sobretudo nas grandes ocasiões: na hora de um pai dar uma repreensão a um filho; por ocasião de um funeral da família; no dia de um casamento… Essa alternação se dava sobretudo nos homens, pois as senhoras eram mais estavelmente tradicionais, apesar de aceitarem também certos germes deteriorantes do mundo novo.
Admiração pelos superiores
Eu, entretanto, via nessas pessoas muito mais o aspecto tradicional, do qual gostava enormemente. E notava a superioridade delas sobre mim, o que me deixava muito impressionado.

Famílias da sociedade paulista
Sentia encanto em admirar os melhores e maiores do que eu, o que fazia dos superiores uma causa da minha alegria! E pensava: “Em presença de pessoas assim, sinto que minha alma se engrandece, pois encontra o modelo e o rumo que deve seguir”. De tal maneira que a admiração passou a ser a impostação de alma mais jubilosa de minha vida. Por exemplo, eu tinha mais satisfação em admirar uma pessoa respeitável, do que em participar de uma brincadeira de tapa e pontapé com outra criança, o que eu aliás fazia também, como todos os meninos. Sem ter um temperamento briguento, sentia entretanto uma necessidade de me mover e de, em certas horas, brigar com um e com outro, amistosamente. Mas isso era para mim uma distração de segunda ordem, quase meramente física, pois minha necessidade de espírito consistia em respeitar, admirar e querer bem.
Então, eu tinha muito clara a ideia de que o superior era meu apoio, meu estímulo e meu amigo, o modelo que representava uma fórmula fácil para eu progredir, ajudando-me a crescer espiritualmente e a engrandecer os espaços de minha vida. Era o representante de um mundo muito elevado, ao qual eu só tinha acesso por meio dele.
Encantos pela pompa e o cerimonial

Famílias da sociedade paulista
Para a São Paulinho daquele tempo, era verdadeiro o que foi dito por alguém sobre o mundo anterior à Revolução Francesa: “Hoje em dia as pessoas são amigas umas das outras; antigamente as famílias eram amigas umas das outras”.
Eu alcancei essa época de cheio. No meu tempo de menino havia a arte de receber visitas. As senhoras, sobretudo, visitavam-se mutuamente com freqüência e, de vez em quando, até as crianças retribuíam certas visitas, pois os pais desejavam que elas pudessem dizer aos da mesma geração, quando fossem mais velhas:
– Nossas avós foram amigas.
Encantava-me observar a chegada das visitas, para admirar os cumprimentos, que eram ao mesmo tempo cerimoniosos e afetuosos. E eu gostava também de ver que, nos homens, isso era completado por um outro aspecto: uma família saía à rua, habitualmente em fila, lado a lado, com a senhora junto ao marido e os filhos distribuindo-se de modo movediço durante o percurso. O pai, com chapéu coco, levava a bengala embaixo do braço, segurando o castão na mão, com um ar de comandante de navio, navegando por mares cheios de surpresas, o que lhe dava um aspecto grandioso.
Eu pensava: “Isso está muito bem! A mulher procede com doçura e suavidade; mas o homem deve andar assim, pois, se é próprio dele ser muito afetivo em casa, na rua ele tem de agir como o capitão de uma expedição de família, e já que existem canalhas no mundo, ele precisa saber enfrentá-los. Por isso, ele é bigodudo e tem esse olhar aceso, enquanto o olhar dela é mais dócil, como dizendo: ‘Eu confio neste, que é meu marido’. E apóia levemente a mão no braço dele”. Eu percebia ser aquilo um verdadeiro cerimonial, o que me causava entusiasmo!
A dignidade do homem era também favorecida pelo traje. Os paletós desciam até o joelho e eram sempre feitos de uma casimira de cor séria. Os meus tios-avós, por exemplo, usavam camisa de linho, engomada e de peito duro, a qual obrigava o homem a manter-se ereto, mesmo quando estivesse sentado. Os botões eram feitos de pedras preciosas – rubis, safiras ou esmeraldas – montadas sobre um apoio de ouro e presas por um disco dourado.
Assim, eu ia assimilando os elementos positivos de tudo o que via, mas sem deixar o meu papel de menino.
Para receber os visitantes, traje de gala
Quando chegavam visitantes a nossa casa, às vezes desejavam ver as crianças da família. Nós tínhamos de aparecer na sala para cumprimentá-los e, portanto, devíamos deixar os brinquedos e trocar as roupas comuns com que estávamos. Essas eram bem largas e arejadas, favorecendo a respiração cutânea por todos os lados, sobretudo pelas mangas, o que me agradava muito. A Fräulein, então, dizia:
– Kinder! [crianças] É preciso vestir-se depressa.
Nós já percebíamos tratar-se de uma visita…
– Aiii! Quem é? Não vou!
– Vai! Pois Dª Lucilia quer que você vá.
– Ah! Bom.
Então começava o tormento: tínhamos de vestir a roupa de gala, o que eu achava horrivelmente tedioso! Tratava-se de um traje vermelho, com calça curta que me apertava, meias também curtas, gola branca e rendas. Apesar de mamãe e a Fräulein serem tão cuidadosas em me vestir, todos os meus trajes de luxo pareciam-me muito incômodos, pelo que eu tinha a tendência de jogá-los de lado quando podia e usar roupas nas quais eu estivesse à vontade para poder pensar.
Eu deixava que me vestissem com o que quisessem e nem prestava atenção naquilo, incomodando-me apenas com o elástico da calça, que eu detestava do fundo de minha alma, pois me atrapalhava. A Fräulein me obrigava a usá-lo:
– Hoje em dia se utiliza assim. Fica bonito.
– Mas, Fräulein… Não posso arrancar esse elástico?
– Onde você está com a cabeça?! Imagine que eu corte esse elástico. Como vai ficar a sua calça? Você propõe uma coisa dessas! Pense mais no que você diz.
E eu me dizia: “Ainda mais essa! Além de suportar a calça apertada, tenho de filosofar sobre ela!”. E não respondia, pois sabia que uma certa senhora não gostaria da minha réplica, mas continuava pensando: “Se os outros acham bonito, o que me importa? Não vou usar essa calça apertada, para que a amiga da família, Dª Fulana, veja que estou bem vestido. Que ela se arranje e não me incomodo!”.
Também perguntava às vezes:
– Para que carregar essas rendas?
Entretanto, custava menos vestir as rendas do que enfrentar uma briga e, então, eu raciocinava: “Isso não me atrapalha nem me dá trabalho. Não sou eu quem o coloca em mim mesmo; são outros… Estou aqui como um cabide; pendurem em mim o que quiserem!”.
Não me lembro de uma só vez em que eu me olhasse no espelho para ver como estava minha roupa. Nem me passava pela mente a ideia de fazê-lo!
Outro elemento do “martírio” era a troca de calçado, pois eu, como menino, usava umas alpargatas largas, feias e simpáticas, com as quais era fácil andar e correr, por serem muito arejadas. Mas, para receber visitas, era preciso pôr os escarpins, que lembravam os sapatos de verniz do Ancien Régime, bonitos mas bem apertadinhos. Eu me lembro que fazia a comparação, olhando para os meus escarpins antes de entrar para falar com a visita e pensando: “São dois mundos: o sapato me oferece certo bem-estar que o “escarpin” não dá, pois ele aperta o pé, não tem arejamento e não é cômodo! É apenas suportável, mas, como é bonito!”.
Naquele tempo existia um ator italiano chamado Fregoli, cuja habilidade consistia, sobretudo, em executar sozinho uma peça de vários personagens. Ele entrava para os bastidores, mudava de traje em um minuto e voltava. Então, sendo eu muito lento e demorado para me vestir, a Fräulein Mathilde perguntava-me quando eu iria me parecer com o Fregoli. Eu pensava: “Eu? Nunca!”.
Aprendendo a arte de cumprimentar
A educação era muito severa: as crianças entravam na sala de visitas e deviam permanecer sorrindo para o visitante, sem interrompê-lo enquanto não olhasse para elas. Quando ele se aproximava, então a criança avançava e esperava que lhe estendesse a mão, pois é o maior quem cumprimenta o menor, e este último nunca pode ter o atrevimento de dar a mão àquele. A visita cumprimentava cada um e, quando era uma menina ou um menino até certa idade, dava-lhe um beijo. Os nossos tios-avós, por exemplo, nos osculavam na fronte. O beijo estava profundamente ancorado no ambiente de São Paulo, no regime das famílias de quatrocentos anos.
Eu estava ainda na era do ósculo… Então, a visita perguntava:
– Como vai passando? Eles estão crescidos!
Nós já havíamos recebido normas:
– Não dê informações pormenorizadas, pois o visitante não quer saber como você vai. Isso é uma amabilidade que ele faz para seus pais. Você é um pirralho e ele não tem o mínimo interesse por sua pessoa; de maneira que, ainda que esteja indisposto, com dor de cabeça, por exemplo, não lhe conte nada sobre o seu mal-estar! Pelo contrário, diga: “Vou bem, obrigado”, pois o visitante não vai curar a sua dor de cabeça, nem quer saber dela. Ninguém na sala deseja conhecer algo a seu respeito! Você deve perguntar sobre ele, que talvez diga como está. Então você tem obrigação de manifestar-lhe interesse, por ele ser mais velho e pessoa respeitável. Os pirralhos devem achar interessante a pessoa respeitável, enquanto que esta não se importa com o pirralho. Então, se o visitante estiver indisposto, você deve perguntar com muita solicitude: “Mas já melhorou?”.

Plinio e um de seus tios
Assim havia uma série de fórmulas de gentileza que não correspondiam ao que nós realmente pensávamos, mas, como princípio de boa educação, exigia-se muito que a criança não deixasse transparecer os sentimentos de modo a ser desagradável aos outros. Devia dominar-se e parecer contente.
Acontece que, quando a criança é habituada a se comprimir numa série de circunstâncias, não se dá o que as governantas pensam. Ou seja, a criança fica quieta, mas arranja um modo de exprimir certas coisas sem dizê-las, por onde o interlocutor entende. E aparece assim a “arte dos entretons”, que cada um utiliza conforme seu feitio pessoal. Desse modo, às vezes pode-se passar toda uma descompostura velada, sem ter faltado com a educação. Pode ser inclusive com um olhar ou simplesmente pelo modo de dizer “como vai passando?”.
Por outro lado, uma das idéias centrais da formação desse tempo consistia em afirmar que o homem, para ser simpático e tido em boa conta, não podia ser bruto nem grosseiro, mas precisava possuir um gênio bom e agradável, e tinha de saber tratar todo mundo com delicadeza e gentileza. De maneira que o menino devia ser meigo, suave, doce, amável, polido, culto e estudioso. Quem não soubesse agir assim, não valia nada, pois o paradigma da sociedade era o homem amável e com a amabilidade se conseguia tudo na vida.
Espírito metafísico

Augusto Ribeiro dos Santos, tio avô de Plinio (esquerda)
Meu tio Augusto, irmão de minha avó, vinha com freqüência à nossa casa e permanecia a tarde inteira sentado numa cadeira de balanço, respondendo de muito bom grado às perguntas dos sobrinhos-netos que passavam, o que era para ele uma distração. Um dia, apresentei-lhe um problema:
– Tio Augusto, eu quereria que o senhor me explicasse tal coisa assim.
Não me lembro de qual era o assunto em questão. Ele ficou surpreso e fez o seguinte comentário:
– Esta sua pergunta revela um espírito metafísico.
Pensei: “Veja como ele pronuncia a palavra ‘metafísico’! Ela é muito bonita e me dá a ideia de algo estupendo, extraordinário e maravilhoso; uma coisa
altíssima, na qual não se deve nem tocar. Então, eu tenho mesmo espírito metafísico? Quando crescer, vou aprender o que significa ter espírito metafísico, para ser metafísico a vida inteira!”
Intervenção inesperada

Da. Gabriela Procópio Ribeiro dos Santos (Bilé), com seu filho Antônio Caio
A esposa de um dos meus tios perdeu a mãe. Em certa ocasião, visitando ela nossa casa, conversava com mamãe e vovó, enquanto eu, sentado junto à roda observava o ar triste de minha tia, que estava toda vestida de preto. Em certo momento, pensei: “Afinal de contas, isso deve ter um remédio”.
Interrompi o assunto que elas tratavam e disse:
– Titia, a senhora está sentindo tanto a morte de sua mãe! Por que não faz uma coisa mais prática: pedir a vovó que ela se torne sua mãe? Então, a senhora poderá tirar esse véu e esse traje, levando a vida normalmente.
Senti que aquilo causou um mal-estar geral, mas ela respondeu:
– Meu filho, você tem toda a razão e me aconselhou muito bem! Eu devo fazer isso mesmo, pois sua avó é uma verdadeira mãe para mim.
Percebi, então, que a minha intervenção não era inteiramente regular, mas que a situação havia sido consertada… E notei como era bonita e cerimoniosa a solução dada por minha tia, pois ninguém na roda poderia ter encontrado uma saída para essa “cartada” infantil… Ficaria muito artificial para minha avó dizer: “Minha filha, eu quero ser sua mãe”.
Depois vovó disse algumas palavras amáveis e todas elas fugiram do assunto. Eu concluí: “Está vendo? Além de saber conversar bem, conseguem sair dos apuros de um modo agradável. Isso é cerimônia. Que coisa bonita!”.
Encantos pelas porcelanas e cristais coloridos
Certo dia, houve um jantar de cerimônia em nossa residência, e os pimpolhos, vestidos de gala, tinham de estar presentes para que os amigos da família começassem a ter amizade com os netos da dona da casa. Estes, entretanto, permaneciam na ponta da mesa, proibidos de conversar para evitar algazarras…
Sentei-me à mesa e notei, de repente, algo que já tinha visto várias vezes, mas que ainda não me atraíra a atenção: um serviço de porcelana de Sèvres, com flores delicadamente pintadas e bordaduras douradas. E pensei: “Que bonito! Eu não tinha notado! O prato de todo o mundo é assim, ou varia de pessoa para pessoa?”. Olhei os lugares dos convidados, percebi que todos tinham pratos iguais e depois verifiquei que a sopeira e as travessas eram também de Sèvres, os talheres de uma prata melhor e as taças de cristal: tratava-se de um serviço excelente!
E refleti: “Então, essa porcelana tem relação com esse cristal… O que há no cristal, para que ele deva ser usado com uma porcelana enfeitada, e não com o prato de todos os dias? E o talher de cerimônia! Que bonito! Que bem elaborado! Que coisa extraordinária!”. Apanhava-o e dizia: “Parece mais agradável de segurar do que o talher comum que utilizamos normalmente. Este aqui é muito melhor! Que magnífico!”.
Em outras ocasiões, eu visitava alguma casa e via à mesa taças de cristal colorido, o que era muito apreciado até que a moda desferiu nelas um golpe brutal e só admitiu os cristais transparentes. Havia então taças com bordaduras lindas e reflexos de cores bonitas, para os vários tipos de vinho, inclusive os pequenos cálices de licor no fim da refeição. Recordo-me de uma delas, com bordadura de certa cor não propriamente dourada, mas semelhante à de certos vinhos brancos quando são um pouco carregados. Sem perceber, eu passava o jantar inteiro olhando aquela bordadura e o jogo da luz dentro da taça, “conversando” com os cristais, mais do que com as pessoas, e isso me causava um certo tremor de alegria e de emoção. A minha principal interlocutora era a taça! Depois, quando chegava a hora de dormir, as recordações cromáticas voltavam ao meu espírito… O mundo da cores me “falava” enormemente mais do que as formas e os sons. Entretanto, eu não pensava naquela cor em abstrato, mas no objeto cuja coloração me atraía.
Hoje percebo que eu compunha subconscientemente variedades de cores que talvez nem existissem, imaginando-as como sendo parte de um universo no qual se poderia viver. Por exemplo, passar a existência num mundo dourado…
Admirando as facas de madrepérola
Numa casa onde eu estava de visita, serviram o lanche utilizando certas facas de um desenho muito distinto e delicado. A lâmina parecia banhada a ouro e o cabo era feito de uma madrepérola lindíssima, como poucas vezes eu vi.
Quando o copeiro trouxe aquilo numa bandeja e foi servindo, tive a impressão de um grande raffinement [refinamento] e de um domínio do homem sobre a natureza, de maneira a extrair o que ela tem de mais elevado, e apanhar – não sei em que praias rebarbativas e inóspitas – conchas das quais uma pessoa industriosa sabe aproveitar a madrepérola e fazer aqueles cabos. Eu senti uma consolação e me veio à mente a seguinte idéia: “Que finura! A nobreza infinita de Jesus Cristo está nisso”.
Visitando uma tia
Uma das minhas tias, que ainda não tinha filhos, convidava de vez em quando os sobrinhos para irem à sua casa, onde duas coisas me atraíam especialmente: umas balas feitas por ela, muito do meu agrado, e um brinquedo que consistia num marinheiro mecânico. Colocando-o na água e apertando certo botão, ele nadava, mas minha tia não me deixava brincar com ele, pois a minha reputação era muito deplorável: eu logo quebrava as coisas que apanhava e, por isso, existia na família uma espécie de terror das minhas mãos…
Há uma fotografia em que eu apareço junto à escadaria dessa residência, de onde também está saindo um dos meus tios. Lembro-me da ocasião: a minha tia convidou-nos para almoçar, juntamente com esse tio e, na saída, alguém nos fotografou.
Naquele tempo as crianças usavam umas capas impermeáveis vindas da França, feitas de borracha mas com forros de um tecido semelhante à seda, de cores que me lembravam as asas das borboletas. Era uma beleza! E eu tinha vontade de perguntar: “Por que não viram a capa do avesso?”.
Recordo que eu estava deliciosamente agasalhado no meu impermeável, com muita alegria de ser eu mesmo e de não ser como alguns outros, e pensando: “Sou pequenino e eles são grandes, mas percebo em mim uma agilidade de espírito que eles não possuem. Por causa disso, eu me movo muito mais à vontade do que eles”.
O grande incômodo das luvas
Pelos costumes do tempo, os meninos e meninas deviam usar luvas quando saíam de casa para festas de gala. Eu era um partidário convicto das luvas, por serem bonitas, mas, por outro lado, detestava-as, pois me causavam uma sensação muito desagradável nas mãos e me atrapalhavam a agilidade dos movimentos.
Ao usá-las, eu sentia os meus dedos grossos, não podendo movê-los livremente, pelo que andava com as mãos abertas. Então, com muita bondade, mas de modo taxativo, mamãe dizia:
– Filhão, é preciso fechar os dedos.
Eu, que estava pensando em outras coisas, perguntava:
– O que é?
– Fechar os dedos.
– Ah!
Fechava-os, mas logo no primeiro descuido, estavam eles de novo abertos… E a Fräulein Mathilde ordenava:
– Pliniô! Os dedos!
– Ah, os dedos…
As crianças nas salas de visita

Sala de visitas de uma residência paulista
Às vezes, levados pela Fräulein, nós chegávamos a certas casas de parentes ou de conhecidos, exatamente na hora em que abriam a sala de visitas. O criado abria as janelas, dobravam-se as folhas de pau e penetrava ali uma certa luz que normalmente não podia entrar, a fim de não desbotar os tecidos muito preciosos dos móveis. Ao andar, parecia-me não ter pés, pois não sentia nenhum ruído naquela sala: pisávamos sobre um tapete, que estava sobre um carpete. Eu encontrava uma almofada posta no chão por ornato, e tropeçava nela por inadvertência, quase caindo e quebrando uma série de bibelôs… Para certas pessoas, não tinha nenhuma importância o fato de se quebrar um osso de alguma criança, desde que não se danificassem aqueles objetos!
Então, sentávamo-nos e começava propriamente a visita. Aquilo era de um tédio tremendo!
O mundo dos possíveis e o desejo do Céu
Eu tinha a minha atenção voltada para os objetos da sala, observando desde logo o que pudesse haver de reflexo de maravilhoso e, sob qualquer ponto de vista, me elevasse o espírito.
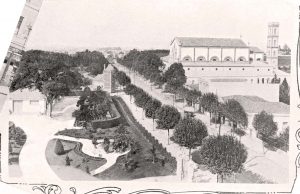
Avenida Brigadeiro Luís Antônio
Naquele tempo, havia pinturas feitas diretamente sobre as paredes, no interior das casas. Na avenida Brigadeiro Luís Antônio morava uma grande dame [nobre dama] paulista de muita categoria, que mandara vir um artista da Europa para pintar cenas de paisagens bucólicas – provavelmente da França natal dele – nas portas do andar térreo de sua casa. Nunca tive oportunidade de perguntar quanto tempo ele levou para pintar cada paisagem, mas tratava-se de um trabalho considerável, o qual, aliás, via-se repetido em mais de uma residência de São Paulo.

Avenida Brigadeiro Luís Antônio
Eu freqüentava também a mansão de um grande fazendeiro enriquecido, na mesma avenida Brigadeiro Luís Antônio, onde havia uma galeria que transpunha a casa de ponta a ponta, dando acesso a todos os quartos e salas do único pavimento. O teto era pintado à maneira da mitologia greco-romana e eu, sem saber disso, olhava aquelas cenas e refletia como podia.
Aquilo dava a ilusão de que alguém havia rasgado o teto e se podia ver diretamente o céu azul com algumas bonitas nuvens. Esse “rasgão” era circundado por uma balaustrada, também em estilo clássico, atrás da qual apareciam deuses, deusas, semi-deuses e semi-deusas do Olimpo, representados como personagens esplendorosos e bem-ordenados, homens fortes e mulheres bem constituídas, vestidos com uma simplicidade clássica de bom gosto, com coloridos lindíssimos e movendo-se num fundo quimérico e mítico. O conjunto apresentava um jogo de luzes que me agradava enormemente.
Lembro-me de duas deusas muito bem vestidas. Pareciam-me pessoas excelsas, conversando num terraço, que eu imaginava revestido de mármores muito superiores aos da galeria do fazendeiro. Elas estavam num misto de unidade e alteridade que eu concebia extraordinário. Evidentemente, o autor da pintura não devia ter pensado nisso, mas o meu senso do ser produzia uma figura de acordo com a sua própria retidão.
Eu imaginava o que elas estariam pensando. Tinha idéia de que as duas eram primas e travavam uma alta conversa que, depois, passaria a ser mais familiar, tratando, por exemplo, sobre o frio, que estava causando resfriado a uma delas.
Eu olhava e pensava: “Como isso é maravilhoso! Elas são mais nobres do que as pessoas em torno de mim! A natureza humana deveria ser muito mais elevada!”. Percebia serem aquelas cenas irreais, mas achava que a sociedade, à força de se aprimorar, poderia chegar a algo parecido com aquilo. E concluía que, na ordem do possível, havia seres com aquela grandeza, os quais, hipoteticamente, faziam parte da Criação.
E dizia para mim mesmo: “Por que estas pessoas que andam no corredor não fazem como eu, não olham para aquilo e compreendem como deveriam ser? Por que não conversam assim, como essas mulheres? Seria muito mais agradável… Olha como se relacionam: gargalhadas, brincadeiras, tratando-se todos de ‘você’. Não seria melhor que eles vivessem como essas figuras do teto?”.
Além do diálogo das deusas, eu imaginava os jardins, as casas, a atmosfera e o estilo do mundo que as cercava. Concebia isso à maneira de uma harmonia, traduzível em música, com melodias delicadíssimas e altíssimas, de um som “super-prateado”, as quais se requintariam a si próprias, de maneira a produzir alguns acordes que as pessoas captariam com o entendimento, mais do que com o ouvido. Seria uma música extraordinária, mais compreendida do que escutada.
Esses pensamentos levavam-me imediatamente a uma pergunta: “Haveria possibilidade de algo mais maravilhoso do que isso? Como seria? Não se poderia conceber uma espécie de céu assim, mas muito mais bonito e magnífico do que este? Onde pára a linha do magnífico e do maravilhoso? Qual é o ponto em que a minha concepção se detém e diz: ‘Para mim bastou! Cheguei a ver e a experimentar o ápice do maravilhoso?’ Há, então, uma ordem de coisas de beleza absoluta, perfeita e imutável? Essa ordem encheria a minha alma! Para ela fui feito e não quero apenas conhecê-la, mas entrar nela. Sinto que isto me transformaria e faria de mim o Plinio que devo ser”.
Esse era o caminhar do meu espírito: tendia para a beleza perfeita, para a magnificência incomparável e para aquilo diante do que eu pudesse dizer: “Afinal bastou! Eu encontrei e possuo. Sou feliz!”.
Era uma consideração global do universo, tendo em vista que ele não é constituído por um conglomerado de maravilhas jogadas a esmo, mas, pelo contrário, existe nele uma ordem hierárquica e monárquica que era preciso amar. Não sabia, mas essa meditação era essencialmente religiosa e, imaginando isso, percebia que Deus estava próximo de mim. Notava em mim mesmo algo de diáfano e leve, sentindo-me bom e direito, desejando coisas retas, o que me causava um gáudio semelhante a uma harmonia interior que, nos seus extremos, tocava no Céu.
É preciso notar que, pelo medo de me abrir sobre esses assuntos com qualquer pessoa – por perceber que ninguém conversava sobre isso e que poderiam considerar-me um desequilibrado se o fizesse –, eu guardava essas reflexões para mim mesmo. Essas cogitações davam-me uma co-naturalidade com o metafísico que tocava todos os “sinos de minha alma” o dia inteiro, a largas badaladas. Essa era minha vida e, evidentemente, no contato com mamãe, isso reluzia muito e me encantava.
A meu ver, tratava-se de uma graça. Sem saber explicitá-lo, eu me sentia filho da Santa Igreja, mas não sabia associar inteiramente aquelas reflexões à religião. Apenas percebia que, quando ia à Igreja do Sagrado Coração de Jesus, sentia muito mais minha afinidade com todas essas belezas, mas não sabia ligar uma coisa com a outra, tanto mais que fiz o curso de catecismo apenas aos oito anos de idade.
Bem mais tarde, começando a fazer leituras sobre temas católicos sérios, fui ligando esses temas com a Revelação e compreendi que esse anseio é um subconsciente desejo do Céu, dado por Deus à alma, fazendo-lhe entender que essa tendência só se realizará completamente na eternidade, mas que há na terra uma série de criaturas as quais, numa escala de valores mutável, conduzem a alma, degrau por degrau, até a Beleza absoluta que, em última análise, é Deus. Isso era o que minha alma procurava, sem saber. Naturalmente, senti-me radiante quando encontrei a perfeita harmonia entre essa tendência e a doutrina da Santa Igreja Católica. E percebi logo que, na ordem das criaturas, esse “céu” é a Igreja. Desde que eu soubesse vê-la e entendê-la, ela seria a galeria aberta pela qual eu veria o Céu.
Admirando os objetos do mostruário do tio
Um dos meus tios-avós possuía um mostruário sobre o qual ele mandara colocar, por meio de um arranjo engenhoso, toda espécie de objetos interessantes e curiosos que ele comprara na Europa, como lembranças dos vários lugares que visitara. Talvez houvesse um tanto de quinquilharia pelo meio…
Entre muitas outras coisas, havia ali uns pequenos mosaicos representando a Basílica de São Pedro e uma esfera de pedra muito bem polida, de uma coloração de âmbar claro, com veios pelos quais passava certa luz. Eu tinha encantos por aquela bolinha e hoje noto retrospectivamente que ela despertava em minha alma uma espécie de entusiasmo, com uma “sinfonia” de sentimentos de harmonia e de beleza, sentindo ser aquilo um mero reflexo de algo que tivesse mais excelência no gênero, existente aliunde [alhures], como se fosse um anjo ou o próprio Deus.
O meu tio tinha também um objeto que era mais uma curiosidade do que uma preciosidade: uma grande concha de mar, muito comum por fora, mas toda revestida de nácar por dentro, com uma pérola que começara a se formar. Os visitantes apreciavam aquela pérola, mas eu gostava de ver o nácar emitindo reflexos, quando a luz incidia nele de certo modo, fazendo um jogo de cores muito discreto.
Às vezes, eu conseguia brincar furtivamente com essa concha e sentia uma inter-relação das cores bonitas e cheias de luz com a afinidade existente entre as qualidades de certas almas boas. Bem entendido, antes de tudo em mamãe, mas também nos outros, por causa dos costumes daquele tempo. O trato das pessoas entre si ainda era muito impregnado de um certo prolongamento da influência católica que antes existira, e esses traços de alma me pareciam ter certa consonância com aquele nácar.
Sobretudo, eu tinha essa impressão ao ver a homenagem que dois iguais se prestavam mutuamente, o que me agradava muito. Por exemplo, encontravam-se na rua dois senhores de boa categoria, que há algum tempo não se viam. Usavam bigode, tinham chapéu coco e levavam bonitas bengalas, andando às vezes com luvas. Cada um deles saudava o outro com um misto de respeito ao amigo e a si mesmo, com benevolência e verdadeira alegria de notar as qualidades do outro. De modo geral, um pouco disso reluzia em todas as relações das famílias de certo nível em São Paulo, de maneira que a vida social ainda apresentava muitos aspectos assim.
Eu percebia nessas atitudes algo de ordem psicológica, social e metafísica, mas, acima de tudo – sem explicitar –, uma beleza sobrenatural: o pulchrum moral que aquele nácar representava em abstrato.
Assim, eu me entusiasmava ora mais, ora menos, de acordo com cada objeto, com toda a bibéloterie do meu tio. Bem entendido, de modo especial com as pedras… Sem haver nenhuma visão ou revelação, isso produzia em mim um efeito semelhante ao de quem visita uma igreja e tem a sensação da presença de Deus. Aquilo despertava em minha alma “harmonias” com uma série de outras impressões de que minha alma era capaz, mas que estavam dormentes, pois ainda precisava viver muito para que viessem à tona. Isso me levava a pensar assim: “Eu sinto que há em mim harmonias lindas, que se explicitarão quando minha alma for conhecendo as coisas adequadas”.
Eram as considerações de um futuro pensador, mas sobretudo de um homem de oração. Hoje percebo que essas impressões tinham qualquer coisa de filosófico e de metafísico, mas muito de sobrenatural. Elas me faziam amar os bonitos ambientes e os belos objetos de uso. Entretanto, nem me vinha a idéia de me adornar aos olhos dos outros e de bancar o importante. Estava ali, in radice [em raiz], o ponto de partida para a constituição de uma obra.
Um quadro inspirador de profundas reflexões
Um dos meus tios possuía um quadro de uma escola francesa de pintura, que representava um rio e duas figuras de camponesas ou ninfas, sentadas. Via-se também um prado coberto de relva, como a da Europa, sobre a qual é agradável passar a mão, ou na qual uma pessoa pode deitar-se e dormir, sem que logo venha uma minhoca ou um inseto para picar e incomodar… Essa relva estendia-se até a entrada de um arvoredo.
Meu encanto não consistia em olhar as ninfas, mas a orla do bosque, num ponto em que este era tocado pela relva, que parecia tomar mais vigor vegetal com aquele contato. Essa relva se tornava mais ela mesma e mais “esmeralda” na proximidade das árvores. E a entrada desse bosque tinha uma vegetação mais rala do que sua parte interna, o que também parecia-me ser bem-ordenado, pois é bom que as coisas muito felpudas terminem em franjas mais abertas e acolhedoras, revelando-se um tanto a quem vai entrar.
Eu olhava aquelas pequenas entradas na vegetação e pensava: “Relva… Abertura umbrática no bosque… Floresta dura e formidável… Tudo isso tem um sentido. Qual é? Há uma verdade atrás disso, que eu hei de acabar por desvendar…”.
Entretanto, as pessoas em torno de mim, ao olhar o quadro, comentavam:
– Como é lindo o queixo dessa ninfa.
Eu pensava: “É verdade! Entretanto, no momento, não estou interessado nesse queixo. Ele é um objeto de análise como outro qualquer; mas o que eu desejaria seria conhecer qual é a ordem que governa uma série de coisas em mim e fora de mim. Por exemplo, percebo que há uma regra nessa sucessão da relva, a abertura com clareiras atraentes e o bosque sombrio, com grandes árvores. E sinto em mim mesmo movimentos de alma pelos quais, ora estou num ‘bosque’ interior, ora estou na ‘orla’ dele, ora estou num ‘gramado’, tendo diante de mim um ‘rio’. Qual é essa sucessão de acontecimentos? Eu quisera compreender…”.
Mas eu não chegava a desvendar aquilo. Só muito mais tarde comecei a compreender bem esses temas e hoje eu seria capaz de explicar, ponto por ponto, qual é o princípio ordenativo desses aspectos e o papel que eles representam na ordem do Universo.
O significado de um ninho
A primeira vez que me interessei por um ninho de passarinho foi na casa de um parente meu, o qual morava também na avenida Brigadeiro Luís Antônio. Essa residência tinha um parque muito grande, cujo terreno era dividido em vários níveis, ladeados por ciprestes podados que formavam uma espécie de escada. Um dia em que várias crianças estavam reunidas nesse jardim, uma menina da casa me disse:
– Vamos pegar ninhos de passarinho?
Eu perguntei:
– Mas onde estão?
– Aqui, você vem comigo!
Tive certa curiosidade e fui com ela. O resto da criançada foi também atrás, correndo e fazendo algazarra. Chegamos lá e ela encontrou um ninho feito, que talvez estivesse abandonado, pois não continha ovos. Eu disse:
– Deixe-me ver como é.
Ela tirou-o do galho, apresentando-o a mim. Eu o analisei o quanto quis, mas depois nos desinteressamos, pois apareceu qualquer outra atração e o ninho foi jogado no chão. Mas na minha mente permaneceu a seguinte impressão: “Que diferentes são as coisas que formam isto!”.
Depois, em outras ocasiões, vi passarinhos em diversos lugares, levando materiais para os respectivos ninhos. Então me veio à lembrança aquele ninho, com a ideia de heterogeneidade: “Como matérias tão diferentes formam esse conjunto?”. Curiosamente, apenas uns dez anos depois fiz a seguinte constatação: “Mas como aquilo estava bem preso no galho… Que coisa interessante!”.
Hoje percebo que o ninho de passarinho da avenida Brigadeiro Luís Antônio me foi útil para explicar a elaboração do pensamento, como a entendo. Muitos temas sobre os quais eu costumo conversar não foram elaborados refletindo, do modo como os românticos do século XIX imaginavam um intelectual: pensando com olhar inspirado, com a mão no cabelo e tendo atrás uma musa etérea que toca harpa e lhe sugere as idéias, das quais ele produz uma conclusão.
Não! Esses temas são constituídos humilde e despretensiosamente, à maneira de um ninho de passarinho, com base em pequenas observações que vou acumulando: “Olhe isso. Liga-se com aquilo e aquilo outro…”. Passa um ano – ou um minuto –, vejo alguma outra coisa e faço a relação com aquilo que já conhecia. Um belo dia, olho o conjunto e digo: “O ninho está feito”. Então faço uma análise severa e submeto a conclusão à prova da razão. E se o “ninho” foi bem construído, resiste a essa prova. Chegou, portanto, a ocasião de utilizar o ninho e “entrar nele”.











Deixe uma resposta