Com Plinio, noite e dia
O meu primo Reizinho e eu éramos amigos íntimos e indissociáveis companheiros.
A família dele era chegadíssima à minha, uma vez que minha mãe e o pai dele eram irmãos. E, como é natural nessa relação de parentesco tão próximo, eu ia sempre à casa dele, bem como ele à minha, e os irmãos dele também se davam muito bem com minha irmã e comigo.1
Ele tinha tanta admiração por mim que desejava estar comigo noite e dia, num verdadeiro empenho de procurar-me a todo custo, como se fôssemos irmãos. Eu também lhe queria muito bem e gostava da sua companhia, mas não compreendia essa mania de estar comigo – tão grande que não se desgastava com a intimidade – pois não concordávamos em quase nada e ele não tinha nenhuma participação no meu ideal!
Uma adesão sem base doutrinária

Dr Gabriel Ribeiro dos Santos e seus filhos

 Ele conhecia perfeitamente a minha vida e não tratava de imoralidades na minha presença, mas, pelo contrário, sempre conversávamos sobre coisas puras. De outro lado, por exemplo, quanto ao assunto da Monarquia,2 eu notava que o Reizinho seguia a orientação do próprio pai, político da República, e ele também percebia que a minha posição era a oposta. Já em 1922, quando a família imperial estivera em São Paulo,3 os comentários entre nós dois haviam sido desafiantes: ele chamava os príncipes de pedantes e pretensiosos, afirmando que “essa gente hoje não é mais nada e não vale mais nada”, e eu respondia, mas sem brigarmoA adesão dele a mim não era doutrinária, portanto, mas tratava-se de algo completamente diferente, de maneira que eu me punha o problema e uma vez perguntei a ele:
Ele conhecia perfeitamente a minha vida e não tratava de imoralidades na minha presença, mas, pelo contrário, sempre conversávamos sobre coisas puras. De outro lado, por exemplo, quanto ao assunto da Monarquia,2 eu notava que o Reizinho seguia a orientação do próprio pai, político da República, e ele também percebia que a minha posição era a oposta. Já em 1922, quando a família imperial estivera em São Paulo,3 os comentários entre nós dois haviam sido desafiantes: ele chamava os príncipes de pedantes e pretensiosos, afirmando que “essa gente hoje não é mais nada e não vale mais nada”, e eu respondia, mas sem brigarmoA adesão dele a mim não era doutrinária, portanto, mas tratava-se de algo completamente diferente, de maneira que eu me punha o problema e uma vez perguntei a ele:

Cornélia e Gabriela chamadas de Nélia e Yelita
– Você conhece meus costumes e minha conduta. Diga-me: por que você me procura e não vai se reunir com outros?
Ele disse:
– Eu o procuro porque conversar mesmo é com você! Você diz coisas interessantes.
Pelas ruas, conversando
Mas, o que poderiam conversar rapazes de treze e quinze anos? Eram banalidades da vida de todos os dias e, em geral, comentários a propósito do que faziam ou diziam inúmeras pessoas. Também, para entretê-lo, eu expunha algumas questões sérias, durante as quais ele falava pouco – pois não era afeito ao pensamento nem à reflexão – mas prestava atenção, sabia ouvir e às vezes fazia perguntas. Assim ele me punha na trilha de um e outro assunto, e só mais tarde percebi que ele “dava corda” para fazer-me falar, e eu discorria.
Entretanto, o nosso sistema de conversa não consistia em permanecermos numa sala, sentados. Saíamos muito à rua e andávamos de um lugar para outro, embora eu não gostasse nada disso, mas sentia que era necessário. E acabava acontecendo que eu ia sempre ligeiramente à frente, falando sem olhar para ele, enquanto ele ficava um pouco atrás, fazendo esforço para me acompanhar.
Também tomávamos continuamente o bonde, pois não tínhamos automóveis, eu por não ter dinheiro – e porque, se tivesse, nunca aprenderia a guiar – e ele porque o pai não lhe dava muito, uma vez que era o filho mais moço.
O apostolado da inocência
Um dia, meu primo e eu estávamos andando pela Praça Guaianazes – hoje Praça Princesa Isabel4 –, sempre conversando, quando o ouvi dizer:
– Olha! Está vendo? Só você diz essas coisas, e mais ninguém! É por isso que eu gosto de andar e conversar com você.
Depois permaneceu em silêncio. Perguntei-lhe:
– Reizinho, está bem, mas, o que é? Pare um pouco e me explique o que eu disse, que um outro qualquer não diz.
– Você não sabe? Então, continue a falar.
– Não, você tem de dizer o que é!
– Você sabe o que é. Eu não tenho de lhe explicar.
Às vezes eu sentia que o Reizinho desejava que eu entrasse mais a fundo nos assuntos. Lembro-me inclusive do gesto dele: batia o pé no chão e dizia:
– Adiante, adiante!
Eu respondia:
– Com minha velocidade, eu chego onde quiser, na hora que eu quiser.

Praça dos Guaianazes, em São Paulo
E de vez em quando ele repetia essas afirmações, levado a me sobrestimar, imaginando e dizendo que eu era inteligentíssimo. O mais curioso é que não conseguia explicar bem – e nunca arranquei dele – quais eram as coisas que eu tinha dito e ninguém dizia. Sem dar maior importância a tais comentários, refletindo notei que ele tinha razão: eu percebia nas coisas muito mais aspectos, reflexos e circunstâncias do que o comum dos rapazes que me cercavam. A tal ponto, que a maior parte das minhas impressões eu não comentaria numa roda, pois não haveria compreensão.
Então, nessas expansões fui tentando fazer apostolado com ele, mas me perguntava o que havia no fundo daquela cabeça e qual era o “buraco da fechadura” pelo qual eu poderia fazer-lhe algum bem. Tenho a impressão de que ele possuía restos de inocência, que se explicitavam ao sentir algo de inocente em mim e naquilo que eu dizia. Com isso, ele recebia certas graças à maneira de flashes, que às vezes, entretanto, recusava.
Desentendimento e reconciliação
Eu tinha gênio muito calmo e gostava de agir com método, enquanto o Reizinho era de gênio impetuoso, espaventado e amigo de novidades, numa vivacidade e ebulição contínuas. E essa diferença constituía uma fonte de mal-entendidos e atritos. Às vezes eu analisava os impulsos dele e refletia, sem dizer-lhe nada. Ele percebia que estava sendo observado, ficava incomodado e perguntava:
– O que está me olhando?
– Não posso olhar?
– Não, olhe para outra coisa!
Entretanto, continuávamos muito bons companheiros e nossas relações eram de bonachão com bonachão. Por exemplo, ele me dizia:
– Muita gente me acha bonito.
De fato, ele era tido por muitas pessoas como um rapaz bem apessoado. Eu respondia:
– Olhe, para ser franco, acho você medonho!
Ele tomava muito a bem aquela resposta, e perguntava sem amargura:
– Porque você acha que sou tão feio assim?

Desenho repressentando Cyrano de Bergerac, personagem de uma obra de Edmond Rostand
– Você tem um nariz descomunal. Um verdadeiro Cyrano de Bergerac.5
– E você, se acha bonito?
– Não. Não pretendo nem nunca ninguém me disse isso, nem sequer mamãe.
– Você fala de meu nariz, mas não percebe a distância que vai de um extremo de sua face para o outro?
– Não prestei atenção.
E o bom convívio continuava. Às vezes, quando estávamos fatigados, tínhamos brigas “de morte” no bonde, nas quais declarávamos ser “irreconciliáveis até o último dia da vida, rompidos por todo o sempre”. Descíamos e, daí a quinze minutos ou na manhã seguinte, nos reencontrávamos e estávamos reconciliados.

Bonde no centro de São Paulo
Certo dia brigamos na rua e, quando tomamos o bonde para voltar a casa, meu primo sentou-se na frente e eu fui para o último lugar, na parte de trás. Ora, nesse bonde havia um rapazinho que fazia a cobrança das passagens e nos conhecia muito. Ele passou pelo Reizinho e disse:
– Seu amigo está lá no fundo.
Meu primo respondeu:
– Eu não lhe perguntei.
– Mas então, fique sabendo que está.
Depois foi para o fundo e disse-me:
– Seu amigo está lá na frente.
Eu lhe dei uma resposta afável. O Reizinho ouviu de longe, voltou-se para trás e me fez um sinal, perguntando por que eu não ia sentar ao lado dele. O rapaz tinha nos reconciliado! E lembro-me do comentário do meu primo:
– É qualquer coisa a nossa amizade, pois até os cobradores de bonde a conhecem!
Uma proposta não aceita
Tal era essa amizade, que várias vezes o Reizinho quis fazer comigo um pacto:
– Vamos combinar: o primeiro dos dois que morrer aparece para o outro! Eu apareço para você ou você aparece para mim?
Mas eu disse:
– Você aparecer para mim? Não! Eu não entro nesse pacto! Se eu morrer antes de você, e se você pedir a Deus que me dê autorização, eu obedeço, mas, querer que você apareça para mim, não! Fique isso bem entendido entre nós: fantasmas, não!
Ele dava risada, mas queria a todo custo fazer esse trato comigo. E eu nunca quis aceitar.
Amigo exclusivista
Os outros primos e minha irmã também procuravam muito minha companhia e, frequentemente, quando estávamos todos juntos, eu acabava sendo o centro da roda. Ora, eu percebia que o Reizinho não queria que terceiras pessoas entrassem em nossa conversa. Ele não o dizia, mas ficava todo incomodado quando eu aproximava alguém de nós.
Eu, pelo contrário, como era muito sociável, não gostava desse confinamento e apreciava que outros viessem conversar conosco. Então, quando podia fazê-lo sem irritar meu primo, forçava a situação e introduzia outros na roda, para me distrair.
Pedras na janela e visita inoportuna
Além do mais, quando ele se encontrava comigo não me deixava ler, pois desejava conversar todo o tempo. Então, às vezes eu escapava dele e me refugiava em casa, pois gostava muito de ficar sozinho, na minha placidez, e dedicar-me à leitura. Entretanto, nessas ocasiões ele não se dava por vencido: em certas noites, dava na veneta dele a extravagância de ir dormir em minha casa, para me obrigar a conversar.
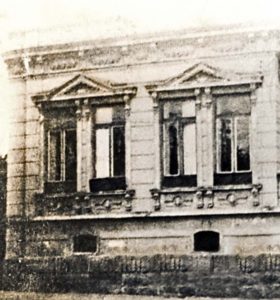
Nestas janelas da casa de Plinio podem ser vistos os enormes adornos de parede, pelos quais Reisinho subia pra entrar
A residência do Reizinho não era muito longe da minha. Ele só conseguia sair quando já era bem tarde, chegava, entrava no jardim e, como todas as portas estavam fechadas e não queria incomodar ninguém tocando a campainha, ele então começava a jogar pedrinhas na janela do meu quarto. Eu já estava deitado, dormindo a sono solto, e custava para acordar, mas, afinal, ouvia o barulho na veneziana, bem como a voz dele:
– Plinio! Plinio!
Eu já percebia quem era.
Como muitas casas antigas, a minha tinha um porão alto, em cima do qual estava o andar em que morava a família, inclusive o meu quarto. E, também como se usava antigamente, a fachada era toda cheia de ornamentos em relevo.
Então, com uma agilidade surpreendente – que eu nunca tive! – o meu primo se servia desses adornos para subir pelo lado de fora e batia diretamente na janela. Eu ouvia e gritava:
– O que é?
Ele, pendurado, dizia:
– Sou eu.
– Estou dormindo.
– Deixe de história! Olhe: as portas estão todas fechadas. Abra a janela, que vou entrar. Logo! Senão eu caio!
Eu ficava mal-humorado e não queria abrir, pensando: “Recomeça a sarabanda”. E tinha vontade de dizer-lhe: “Olhe aqui, você caia da janela se quiser, mas eu não abro essa veneziana, porque não permito que venham me acordar às três da manhã!” Mas percebia que não podia fazer isso e, além do mais, ficava apavorado com o perigo de ele cair no chão, sofrer um desastre e ficar estropiado ou morrer. E pensava: “Não quero ter essa culpa”.
Então, afinal de contas me levantava estremunhado, cambaleando, ia correndo abrir a veneziana e perguntava-lhe:
– Por que você não foi dormir em sua casa?
– Não. Eu quis dormir aqui hoje.
– Olhe, eu não gosto dessas coisas! O que você quer?
Ele não respondia e já ia pulando janela adentro. E, embora a minha casa fosse da intimidade dele, eu tinha a sensação de uma invasão de bárbaros. Então dizia:
– Bem, você está aqui. Mas agora, como vai fazer para dormir?
Ele respondia:
– Eu me arranjo! Uso um dos seus pijamas. Onde está meu colchão?
– Está lá. E naquele armário tem tudo o mais. Você faça a sua cama, enquanto eu vou dormindo. É a condição.
De fato, já havia para ele todo o material necessário, guardado em determinado lugar, pois fazia essas visitas com frequência.
Ele então preparava a cama e dizia:
– Você está querendo que eu fique deitado? Que ilusão! Eu não vim para isso. Quero antes conversar, e depois dormir.
Eu respondia:
– Não, agora não.
– Vamos! Senão eu brigo e você perde o sono. Melhor falar um pouquinho.
– Está bem, vamos conversar. O que você conta de novo?
Ele contava alguma novidade que interessava até o dorminhoco… A prosa continuava durante algum tempo, mas eu lhe fazia perceber que não conseguiria obter muito de mim naquela hora e, no final, dizia a ele:
– Agora vou dormir.
Eu me deitava e apagava a luz do abat-jour, mas ele continuava a falar no escuro:
– Não pense que vai acordar tarde, como você gosta. Vai acordar cedinho, porque eu quero conversar com você desde a manhã.
– Não! Eu não permito que você faça isso.
– Você vai ver.
Afinal, adormecíamos os dois.
Mas, na manhã seguinte, a claridade da luz do dia acordava o meu primo, enquanto eu não me incomodava e dormia meu grande sono plácido. Ele já estava em fogo e, realmente, querendo conversar. Cutucava-me e dizia:
– Plinio! Plinio!
Eu fingia não ouvir, para ver se conseguia dormir mais um pouco. Ele continuava:
– Plinio, Plinio!!
– O que é?
– Já é cedo!
– Fique quieto!
– Já é cedo!!
– Não me amole!
E virava-me do outro lado. Então, para me acordar, ele inventou o seguinte absurdo:
Havia no meu quarto um bonito pesa-papéis de cristal, cor lilás, que alguém me tinha dado de presente. Então, meu primo se punha em pé junto à cabeceira de minha cama e, brincando, começava a jogar aquela pedra de uma mão para outra, em cima da minha cabeça, para obrigar-me a levantar. Eu ouvia aquilo batendo nas mãos dele e pensava que o cristal poderia cair a qualquer momento, se ele errasse no jogo. E era uma pedra grande e pesada, com muitas pontas… Seria desagradável! Eu então dizia:
– Pare com isso!
– Se você me assustar, cai a pedra em sua cabeça.
Naturalmente, aquela situação me deixava em estado de inquietação e não me permitia dormir. Então, indignado,
levantava-me e lançava-me sobre ele para expulsá-lo.
Ele resistia, pois éramos de corpulência equivalente, e logo começávamos a brigar aos tapas e pontapés. Normalmente ele fugia, dentro do próprio quarto, mas essas batalhas eram perdidas por mim, pois, na briga, eu tinha acabado de acordar, e era isso o que ele queria! A vitória dele estava ganha e tudo terminava em risadas.
Uma vez que eu não tinha mais sono, sentava-me, rezava e, já sentindo fome, mandava vir o café da manhã para os dois. E, enquanto o tomávamos, começávamos de novo a conversar.
Tristezas do Reizinho
Eu notava que, apesar de seu temperamento alegre e cordial, o Reizinho tinha um fundo muito melancólico, que se manifestava de repente, em horas sombrias, momentos de uma tristeza profunda, em que ele abstraía de minha presença e ficava pensando. Certas ideias e preocupações o assaltavam e lhe giravam na mente, mas ele não dizia quais eram.

Reizinho
Uma vez, durante as férias, fomos juntos à fazenda de uma tia dele. Em certo momento, nem me lembro por que, entrei no quarto onde ambos estávamos hospedados e dei com ele: encontrava-se diante de uma mesa de toilette, acabando de se arranjar. Ele ficou surpreso de me ver, pois não era hora de ninguém voltar aos quartos, e notei que estava com fisionomia de choro e olhos marejados de lágrimas. Então perguntei-lhe:
– Que é isso? Você está chorando? Por quê?
Ele passou pó de arroz no rosto, esfregou um pouco para disfarçar o sulco das lágrimas e disse:
– São coisas que você não sabe.
Os fins de semana de um aluno interno
Muito traquina, esse meu primo era mau aluno, recebia notas péssimas e o seu insucesso crônico nos exames era quase proverbial! Então, aos catorze anos, tendo fracassado em vários colégios de Padres por causa dessas “bombas” e das estripulias que fazia, os pais dele se zangaram e o matricularam num internato inglês chamado Dulley,6 um dos melhores e mais afamados de São Paulo. Ele começou a cursar o segundo científico7 e só podia ir para casa no fim de semana, voltando ao colégio na própria noite de domingo.
Ora, o Reizinho detestava esse colégio e, então, nas sextas-feiras à tarde saía alegre, pois iria ter um conjunto de diversões e prazeres contínuos, que eram o contrário da vida de internato: conforto, algum dinheiro, restaurantes, cinema, teatro e passeios na cidade. Ele ia diretamente à minha residência para se encontrar comigo e começarmos logo o nosso fim de semana. Permanecíamos juntos – em todo o tempo livre que os meus deveres escolares permitiam –, passeando de um lado para outro, em comedorias magníficas e longas conversas, e depois passávamos a tarde do domingo na residência dele. Pois, assim como meus primos “Gabriéis”8 iam nas quintas-feiras à nossa casa, era o hábito de minha irmã, minha prima Ilka e eu irmos no domingo à deles e tínhamos um período muito alegre, também com excelentes iguarias e grandes conversas.
Reizinho na “baixa”
À tardinha, os tico-ticos começavam a pipilar em todos os galhos das árvores, de um modo que tinha algo de trágico.
Pelas seis e meia ou sete horas da noite, eu ainda tinha um bom humor turbilhonante, mas começava para o Reizinho um crepúsculo interno, que o levava a ver todas as coisas de modo soturno. Nessas horas ele começava a fazer fileiras de bolinhas de papel, o que significava depressão profunda! Depois afastava-se, ia para um hall onde havia um sofá de couro e estendia-se ali, com os olhos fechados. Mas o móvel era pequeno e os pés dele ficavam para fora.
Quando eu via aquilo, aproximava-me dele e tentava animá-lo, de modo amável:
– Reizinho, o que você tem?
Ele dizia:
– Estou triste, aborrecido. Ai! Eu não aguento mais…
– O que é isso? Por que você não aguenta mais? Diga o que é.
– São coisas que você não entende.
– Mas o que eu não entendo? Você, que vive tão alegre e contente, por que está assim? Precisa me explicar.
Ele permanecia naquela imobilidade, mas queria que eu conversasse, para distraí-lo. Eu insistia:
– Rei, vamos parar com essa história! Sente-se aí e converse, ou levante-se e ande. Vamos para qualquer lugar, brincar, comer ou fazer qualquer coisa!
Mas ele decretava:
– Não posso, estou na “baixa”.
– Mas acabe com essa “baixa”! Eu não estou na “baixa”! Olhe aqui: estou na “alta”!
– Isso é com você. Eu estou na “baixa” e já tenho dor de cabeça.

Propaganda do Colégio Dulley, em São Paulo, onde o Reizinho era aluno interno
Então ele puxava um lenço molhado com água de colônia, desdobrava-o e estendia-o sobre os olhos e a testa. Eu dizia:
– O que é essa dor de cabeça?
– Você já sabe. Não vê que a tarde está caindo, o domingo está acabando e a alegria também?
– Não está acabando, Rei! Vem ainda o jantar!
– É que esse modo de anoitecer, para mim, já prenuncia o que acontecerá amanhã cedo e a semana inteira.
– O que é?
– O estudo. Daqui a poucas horas tenho de voltar para o Colégio Dulley! Você quer pior?
– Está bem! Você tem de ir. Então, ponha-se de bom humor e vá alegre!
Ele se refugiava numa atitude pseudo-sublime e dizia:
– Você não sabe como é a minha semana. Que horror…
– Olhe a minha! O que tem de diferente?
– Você é um felizardo. Se soubesse como a minha vida é mais dura que a sua…
E gemia sem abrir os lábios. Eu me fartava de vê-lo deitado ali e, então, brigava com ele, para tirá-lo da “baixa”:
– Não pense que vou ficar aqui sentado, vendo você triste! Esteja triste sozinho! Diga qualquer coisa ou vou embora!
– Se você tiver coragem, deixe-me sozinho nesta situação.
Tomava-me pela mão e dizia:
– Vejo que você está alegre, bem disposto, querendo conversar, e eu estou com humor negro, mas, por favor, me faça um pouco de companhia e fique aqui! Não me abandone!
Eu lhe queria bem e, portanto, não desejava fazer uma brutalidade com ele nem deixá-lo zangado e, além do mais, sabia que aquela fase durava pouco tempo, mais ou menos uma hora. Então, levado por temperamento a tirar o partido agradável das coisas, eu contemporizava e pensava: “Esta é uma boa variedade: ele fica quieto e eu também. Tenho tanta coisa em que pensar!”
Chegava afinal a hora de sair: ele se levantava de um pulo, gemia, fazia uma fisionomia normal para os outros parentes e se despedia com abraços. A “gaiola” do internato se abria, acabavam-se
para ele os dias de alegria e começava a vida dura.
Ora, naqueles períodos de silêncio eu prestava atenção, perguntando-me o que estaria se passando na cabeça dele. Ademais, às vezes eu via muitos outros companheiros, de minha idade ou mais moços do que eu, também nessa situação. Assim, cheguei a formular no meu espírito o quadro de uma “baixa”.
Análise sobre a “baixa”
Ao longo de toda a semana, esse meu primo tinha a ideia de que a tristeza se afastaria de sua vida quando ele saísse do colégio, e tudo seria alegria. Perto da sexta-feira ele começava a entrar na “alta” e, quando chegava a noite desse dia, ele estava contente como um passarinho. No sábado e no domingo de manhã, essa alegria ainda perdurava.
Mas à medida que o tempo corria, e se aproximava o momento de retornar ao colégio, a tristeza ia voltando. Quando faltavam uma ou duas horas, o primeiro sintoma dessa depressão era um certo incômodo gástrico que dava em dor de cabeça. Aquilo era quase irresistível e ele se deitava, mas, então, todos os lados difíceis da existência começavam a “cavalgar” na mente dele: as obrigações escolares, as notas baixas, a repreensão dada pelo pai… Um verdadeiro torvelinho!
Enquanto ele não entrasse no colégio e não começasse os afazeres cotidianos, aquela transição da liberdade para a vida de internato produzia nele o efeito de pânico. E tinha a ilusão de que o sofrimento diminuiria se ele se deixasse cair na “baixa”, razão pela qual não queria resistir, achando que valia a pena passar pelo “túnel” e, assim, desabafar.
Eu percebia o erro que havia nessa atitude, pois a “baixa”
não lhe trazia desabafo, mas o fazia sofrer mais e ele passava a ver todas as coisas num pessimismo negro, muito piores do que eram na realidade, à maneira de fantasmas que se levantassem de dentro de um pântano e se colocassem diante dele. A partida parecia horrível, a chegada ao colégio sinistra, os colegas estúpidos, os professores carrascos e o regulamento uma tortura.
Portanto, a “baixa” era sempre mentirosa.
Ora, eu nunca tinha “baixas”. Com o auxílio de Nossa Senhora e graças à Fräulein Mathilde, eu fora ensinado a andar na vida com passo duro e firme, e sempre reagia contra a ideia de que a existência cotidiana era insuportável. De maneira que me insurgia contra a opinião de que a segunda-feira era uma tragédia. Eu terminava os meus domingos comendo em abundância, e pensando normalmente no que faria durante o resto da noite e no dia seguinte, no colégio. Organizava meu programa, fazia meus planos e aplicava meus métodos, enfrentando os inconvenientes e os riscos.
Isso me fazia evitar as “baixas” e as tentações, e me ajudava a ser um homem forte.
Composições ditadas por Plinio
Em certas ocasiões, antes de ir para o colégio, o Reizinho me dizia:
– O professor deu uma composição para fazer, sobre tal assunto. Eu quero pedir para você me ditar.
Às vezes eu dizia que não ditaria. Ele ficava furioso e, forte como um touro, agarrava-me e então nos atacávamos de um modo muito pouco elegante, com pontapés nas canelas de parte a parte. Nunca quebramos a perna um ao outro, mas dávamo-nos mutuamente golpes violentos durante uns cinco minutos. Em geral, no fim eu cedia e fazia a composição, pois percebia que ele sairia mais animado. E pensava: “Vou aplicar menos esforço ditando a composição do que continuando esta briga corpo a corpo. Coitado! Tenho pena dele! Faço a composição, ele já vai embora e eu me deitarei no sofá, para ler com tranquilidade um livro de história da França”.
Certa vez, numa tarde bonita de domingo, eu não estava em casa dos primos, mas sozinho no terraço da casa de vovó, suspeitando que o Reizinho ia aparecer a qualquer momento, o que de fato sucedeu.
Ele chegou e começou a entrar na “baixa” um pouco mais cedo que a hora de costume. Eu disse:
– Olhe aí, Rei, já vem você com as suas “baixas”. Deixe-me aproveitar o fim de minha tarde, e movimente-se!
Ele respondeu:
– Escute, eu tenho um “abacaxi”, uma coisa muito tediosa para lhe pedir.
– O que é?
– Aquele inglês bandido (era o Dulley, dono-diretor do colégio onde ele estudava) quer que toda a turma faça uma composição. Você vai ter de me ditar esse trabalho!
– Isso é muito sem-graça, Rei! Vamos conversar um pouco, tranquilamente.
– Não pode ser, porque eu já deveria ter feito o trabalho, mas não queria tomar nosso tempo com coisas dessas e, então, resolvi deixá-lo para o fim. Não tem remédio! Você precisa ir para o escritório e fazer essa composição, já! Pois de repente acontece qualquer coisa: tia Lucilia ou tio João Paulo mandam lhe chamar e não haverá mais ocasião. Se eu não apresentar a composição para o bandido amanhã, ficarei preso no sábado, sem poder sair do internato!
Eu perguntei:
– Que tamanho deve ter?
– Duas páginas de bloco, à mão. E o professor deu um tema estúpido, já sabendo que os alunos não conseguiriam
desenvolvê-lo!
– Vamos, Rei! Qual é esse tema?
– Um grão de areia!
Nessa época eram propostos assuntos como esse nos colégios, para excitar nos alunos a capacidade de compor, o que era um sistema inteligente. Meu primo bateu com a mão na testa – um verdadeiro rochedo perpendicular! – e disse:
– Você vê que estúpido! Eu não sei escrever sobre isso.
Você sabe?
– Posso experimentar. Vamos lá à composição. Traga aqui uma caneta-tinteiro e eu já dito a você, de uma vez.
Ele sentou-se, já um pouco desenterrado da “baixa”, e ditei para ele uma história que me ocorria no momento, por tratar-se de algo que me acontecia com frequência: o caso de um grão de areia que entrava no sapato de alguém e o atrapalhava. E o Reizinho, afobado, dizia:
– Depressa, porque está chegando a hora de ir ao colégio!
Terminada a composição, ele dobrou as folhas e disse:
– Muito obrigado! Vou copiar melhor isso, pois quero dar a impressão de que pensei. Se o deixar escrito assim, o professor não vai acreditar. Agora vamos conversar sobre outra coisa.
Mudamos de assunto, depois ele levou a composição para o colégio e eu me esqueci da história.
A humilhação do Reizinho
Como aluno interno, ele não podia telefonar e, então, eu não soube qual foi o resultado do grão de areia, mas quando chegou o sábado, ele tomou a iniciativa de dizer-me:
– O Dulley gostou muito da sua composição.
– Qual nota ele deu?
– Zero.
– Zero?! E você está contente com esse zero?
– Estou.
– Como? Para você não importa? Rei, você não compreende que isso é um absurdo? O que aconteceu?
Ele costumava contar-me com toda honestidade episódios humilhantes para si mesmo. Então, respondeu:
– São os meus azares, que você já conhece bem. O Prof. Dulley entrou na sala de aula, começou a ler as notas que tinha dado e chamou: “José Ribeiro dos Santos!” Eu me levantei, pensando que ia receber uma grande nota e, de fato, ele disse que a minha composição merecia o primeiro prêmio naquele dia. Os colegas exclamaram e eu fiquei muito contente, mas depois o Dulley dobrou o papel e continuou: “José, está pensando que vou acreditar? Você não me engana: essa composição não foi feita por você”. Toda a classe riu imediatamente e eu fiquei muito vermelho, indignadíssimo! Então, para me defender, perguntei: “Por que o senhor diz isso?” Ele respondeu: “Porque você não é capaz. Você copiou isso de alguém”.
O Reizinho não podia continuar sustentando diante do professor que ele era o autor, pois sabia que iria ler o texto em voz alta e os alunos diriam: “O Ribeirão não foi!” – davam-lhe esse apelido, por ser grande e forte. Então, o Dulley perguntou:
– Quem fez essa composição para você?
Ele respondeu:
– Foi meu primo.
– Como se chama esse primo?
– Plinio Corrêa de Oliveira.
– Ah! Eu não o conheço, mas já ouvi dizer que é muito inteligente.
Na realidade eu havia conhecido o Dulley – homem baixinho e franzino – durante uma estação em Águas da Prata, mas quase não nos olhamos.
E o inglês continuou:
– Você está fora do páreo. Nota zero. Sente-se!
Esse professor agiu muito mal, pois não deveria ter humilhado e desestimulado um aluno até esse ponto, diante toda a sala de aula. O Reizinho concluiu a narração, mas já havia mudado de fisionomia e estava revoltado, começando uma “baixa”:
– Você não faz ideia da humilhação que o seu grão de areia me impôs!
Lembro-me perfeitamente que ele bateu novamente com a mão na testa e disse:
– O que você quer? Eu sou burro! Sou burro mesmo, mas não tenho culpa! Você entendeu bem?
– Mas, de onde você tirou isso? Você conversa comigo e me entretém bem. Você não é burro!
– Não! Lorota sua! Você diz isso por pena de mim, mas eu sou burro!
De fato, eu estava com pena, mas fingi não entender o que ele dizia e procurei brincar sobre alguma coisa diferente, a fim de tirá-lo daquele estado soturno e alegrá-lo um pouco.
Eu o conhecia bem. Ele possuía uma inteligência razoável e era muito menos burro do que dizia, mas preguiçoso, sem desejo de reflexão nem de leitura, desinteressado de qualquer forma de cultura e, por isso, incapaz de qualquer esforço intelectual. Por exemplo, nunca aprendeu francês, sendo que, na família de mamãe, todos os membros, sem exceção de nenhum, sabiam falar essa língua e, quando queriam dizer algo durante uma refeição sem que os empregados entendessem, era corrente falar em francês. Nessas ocasiões meu primo tinha de permanecer quieto e, às vezes, uma ou outra pessoa menos bondosa lhe perguntava:
– Ó Rei! Por que você não entra nesta conversa?
Ele dava um pontapé no interlocutor por baixo da mesa, para não chamar a atenção das pessoas sobre essa ignorância, pois o não saber francês era uma nódoa.
A vingança exercida nos chapéus

Dr Adolfo Lindenbeerg, esposo de Da. Yayá, irmã de Da. Lucília
Um dos meus tios, cientista, professor universitário muito sério e respeitável,9 ia a nossa casa para os almoços de domingo.
Era muito irônico e tinha um riso característico. Então, certa vez disse ao meu primo:
– Hu-hu-hu! Reizinho, como vão os exames?
Ele respondeu:
– Só fiz alguns.
– E nesses que você fez, foi bem ou mal?
– Em alguns fui bem.
– Hu-hu-hu! Eu já estava vendo: em alguns foi mal, não é? Tomou “bombas”?
Os pais de meu primo estavam presentes, mas não intervinham e o deixavam entregue às críticas do tio. Então, quando acabava o almoço e todos se levantavam, ele saía da sala e dirigia-se ao porta-chapéus que ficava no corredor. Olhava o couro dentro dos chapéus, onde estavam marcadas as iniciais do dono e, quando encontrava o chapéu-coco do tio, disparava numa espécie de futebol contra ele, aos pontapés e resmungando:

Um chapéu-coco
– Ele não tem nada a ver com minha vida! Onde se viu? Bandido, ele me paga!
Eu dizia:
– Ó Reizinho, deixa disso e vamos passear!
– Não, antes de macetar esse chapéu eu não o largo, e dou mais pontapés!
Quando acabava a sessão e ele havia desabafado a raiva, eu dizia:
– Bem, agora você vai desamassar o chapéu.
– Não, não vou!
Afinal, os dois desamassávamos um pouco o chapéu e o repúnhamos no cabide, mas estava inutilizado! E, no próximo domingo em que o tio e o sobrinho se encontravam, acontecia o mesmo.
Esse fato se repetia com outra pessoa. O Reizinho e eu frequentávamos o Clube Paulistano,10 e fomos lá num domingo em que não havia festa, apenas para tomar o chá, sobretudo pelas torradas e sanduíches muito gostosos que serviam. Então, estávamos em pé no terraço, conversando, quando um senhor, que tomava chá com alguns amigos e quase não conhecia o meu primo, voltou-se para ele e disse:
– Reizinho, como vão os seus exames? Você continua com aqueles estudos bonitos?
É inútil dizer que meu primo ficava muito vermelho quando se tocava nesse assunto. E disse-me depois:
– Por que não perguntam isso para você? Ninguém quer saber de seus exames! Mas, como eu sempre levo “bombas”, todo o mundo quer saber dos meus! Pois bem, eu sei o que farei: pedirei o chapéu dele no vestiário e irei para a sala de festas, que está vazia. Vou levar esse chapéu-coco na ponta do pé, pelos vários ângulos do salão, e depois o jogarei de volta no vestiário, todo amassado. Ele há de saber quem fez isso!

O Clube Atlético Paulistano em 1924
Eu comentei:
– Mas, Reizinho, ele vai saber e se queixará com tio Gabriel.
– E eu vou dizer a meu pai que ele deveria proteger o seu filho!
– Deveria protegê-lo, sobretudo se fosse um filho que correspondesse ao esforço do pai para que ele se forme. Mas, você corresponde?
– Acontece que também tal primo e tal outro têm exames tão ruins quanto eu! Quer saber o que vou fazer depois? Voltar ao Clube Paulistano e esmigalhar novamente o chapéu do homem!
Assim era a vingança do Reizinho nos chapéus.
No parque de diversões
Ainda com meu primo, em certa ocasião fui a um parque de diversões localizado no Parque D. Pedro II.11
Foi essa a única vez que subi numa montanha russa, mas toda a minha constituição psíquica se rebelou contra aqueles movimentos de subida e descida, e só não pedi que parassem o trenzinho porque sabia que não pararia, mas, depois de andar naquilo, fiquei nauseado e fiz o propósito: “Nunca mais! Porque, se esse carrinho não tem perigo de derrapar, esse susto é uma burla que eu não aceito e, se tem, trata-se de um risco que também não quero. Logo, montanha russa, não!”

Parque D Pedro II, na década de 1920
 Havia também uns pequenos automóveis, todos protegidos por borracha, que davam voltas e batiam uns nos outros, e a graça do jogo consistia em assustar-se ou assustar os demais. Eu pensei: “A vida é assim, mas sem as borrachas! Pancadas, pancadas… É a lei do mais forte!”
Havia também uns pequenos automóveis, todos protegidos por borracha, que davam voltas e batiam uns nos outros, e a graça do jogo consistia em assustar-se ou assustar os demais. Eu pensei: “A vida é assim, mas sem as borrachas! Pancadas, pancadas… É a lei do mais forte!”

Pq de Diversão em São Paulo dos tempos da infância de Plinio. – No fundo a montanha russa Tudo indica que foi nessa montanha russa que o Sr. Dr. Plinio andou numa ocasião com o Reisinho
Outra diversão era uma tenda de pano, chamada “a casa que gira”, a qual tinha dois bancos, um em frente ao outro. Nós dois entramos, sentamo-nos e a casinha começou a girar, mas eu, vendo que o chão também balançava e julgando que aquilo ia virar, agarrei-me no espaldar do banco e me pus a urrar. Eu não percebia que estava fazendo propaganda para o dono da biboca, pois com isso aumentava o sensacionalismo. Então, quanto mais eu dizia “pare, pare!”, mais ele fazia a casa girar e, para mim, aquilo pareceu durar uma eternidade!
Depois fiquei tão envergonhado do acontecido que nem a minha mãe contei o fato. E lembro-me que meus braços ficaram todos machucados durante uns vinte dias, pela força com que me havia agarrado ao espaldar do banco, mas também ocultei isso a mamãe, pois ela iria querer aplicar-me algum medicamento para remediar as contusões, e eu achava que aquilo se resolvia por si mesmo.
1 Cf. Volume I desta coleção, p. 355 ss.
2 O jovem Plinio manifestou preferências monárquicas desde muito cedo, e assim era conhecido entre seus parentes e colegas. Cf. Volume III desta coleção, pp. 678-679.
3 Vários membros da família imperial brasileira visitaram a casa de Plinio, devido à amizade existente entre a Princesa Isabel e Dª Gabriela. Cf. Volume III desta coleção, p. 514 ss.
4 No Bairro dos Campos Elíseos, em São Paulo.
5 Protagonista da obra do mesmo nome, de autoria de Edmond Rostand, caracterizado por seu nariz proeminente.
6 O chamado Colégio Dulley, cujo nome era Colégio Modelo Inglês, dirigido por Frederico Luiz Dulley, funcionava como internato e semi-internato para meninos, e estava localizado na Rua Abílio Soares, no Bairro do Paraíso.
7 Na terminologia atual: o segundo ano do Ensino Médio.
8 Os filhos de Dr. Gabriel Ribeiro dos Santos e Dª Gabriela Procópio eram familiarmente chamados de “Gabriéis”.
9 Dr. Adolfo Lindenberg, (1872-1944) esposo de Dª Yayá, irmã de Dª Lucilia.
10 Localizado no Bairro Jardim América.
11 Próximo ao centro de São Paulo.











Deixe uma resposta