Em face da morte
Naquele remotíssimo tempo, toda a atmosfera que cercava uma criança dava-lhe a idéia de um caminho para a felicidade: os quartos infantis eram empapelados com cores alegres, as camas tinham um laqueado claro e as mesinhas eram cobertas com tampos de vidro, por cima de tecidos ornados com flores e passarinhos. Havia quadrinhos representando meninos brincando numa natureza maravilhosa, revistas mostrando automóveis, aviões, castelos, passeios e diversões, e tudo parecia dizer à criança: “Serás feliz, serás feliz, serás feliz…!”.
Em certo momento, porém, começavam as surpresas desagradáveis. E essas foram caindo, na minha infância “rósea e azul claro”, como tiros de bombarda!
Uma história infantil sobre a morte

Livro do contos de Hans Christian Andersen que Plinio leu por ocasião de uma doença. Em primeiro plano o conto “O Anjo”
 Por ocasião de uma doença que me causava febres altas, eu li um livro da Editora Melhoramentos, a qual pertencia a uma família alemã chamada Weiszflog e publicava literatura infantil. Essa empresa possuía uns pinheirais na Rodovia dos Bandeirantes, destinados à confecção de papel. Tratava-se, então, de um livrinho muito ilustrado e bonitinho, contando a história de um menino de minha idade que havia morrido1. Um anjo tomava a alma dele no hospital e levava-a para o lugar onde ela ficaria para sempre: um céu meio pagão e estranho, e não o Céu definidamente verdadeiro, anunciado pela Igreja Católica.
Por ocasião de uma doença que me causava febres altas, eu li um livro da Editora Melhoramentos, a qual pertencia a uma família alemã chamada Weiszflog e publicava literatura infantil. Essa empresa possuía uns pinheirais na Rodovia dos Bandeirantes, destinados à confecção de papel. Tratava-se, então, de um livrinho muito ilustrado e bonitinho, contando a história de um menino de minha idade que havia morrido1. Um anjo tomava a alma dele no hospital e levava-a para o lugar onde ela ficaria para sempre: um céu meio pagão e estranho, e não o Céu definidamente verdadeiro, anunciado pela Igreja Católica.
Esse menino, levado pelo anjo, sobrevoava a cidadezinha onde tinha nascido e a casa onde havia morado; via a própria mãe, o quarto com os brinquedos e um pequeno tanque com um patinho que havia sido dele; o cachorrinho do vizinho, o carrinho do padeiro e a árvore onde ele brincava, da qual ainda pendiam algumas frutas que ele não tivera tempo de colher… Enfim, todas as coisas da vida, das quais ele se destacava, iam ficando cada vez mais longe, mais longe… e ele partia para o desconhecido.
A minha doença era tão insignificante que mamãe me deixou ler esse livro durante a convalescença.
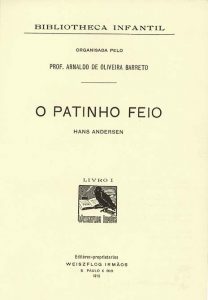 Mas eu tinha uma noção infantil de que, à medida em que a febre subisse, ela poderia chegar a um ponto em que eu morreria. Então, eu me sentia a poucos passos da morte e observava o termômetro para ver se chegava a hora. Para mim, o decreto da morte estava na ponta do termômetro… São sustos da infância. Quando a febre subia a 38 ou 39, eu, pensando que as pessoas não agüentam mais de 41 graus, dizia: “Estou a dois passos, a dois graus… Vai acontecer comigo o que se deu com aquele menino! E se algum anjo me leva, começa a sobrevoar a alameda Barão de Limeira e eu vejo isto e aquilo…?”.
Mas eu tinha uma noção infantil de que, à medida em que a febre subisse, ela poderia chegar a um ponto em que eu morreria. Então, eu me sentia a poucos passos da morte e observava o termômetro para ver se chegava a hora. Para mim, o decreto da morte estava na ponta do termômetro… São sustos da infância. Quando a febre subia a 38 ou 39, eu, pensando que as pessoas não agüentam mais de 41 graus, dizia: “Estou a dois passos, a dois graus… Vai acontecer comigo o que se deu com aquele menino! E se algum anjo me leva, começa a sobrevoar a alameda Barão de Limeira e eu vejo isto e aquilo…?”.
Isso para mim era lancinante! Antes de tudo pela idéia de deixar mamãe. Se me dissessem que ela iria comigo para o Céu, eu nem olhava mais para baixo, mas… e se ela não fosse? Como me arranjaria no Céu sem ela? A idéia da morte me causava medo. Era uma catástrofe e um desastre. Eu tinha enorme vontade de não morrer e ficava muito angustiado pensando no tal livrinho, mas sem a menor revolta ou inconformidade, pois pensava: “É um direito de Deus, pois eu sou uma pessoa insignificante, da qual Ele pode dispor como quiser! Isso está na ordem das coisas e, se Ele deseja que assim aconteça, tenho de me adaptar de qualquer maneira”.
A febre continuava altíssima e eu me perguntava: “Então, vou para junto de Deus? É o que não sei… Sou bastante bom para ser acolhido por Ele? Como é isto? Para onde vou? Que apuro! Será que essa febre não desce?”.
Em certo momento a febre desceu. Esqueci-me do menino da história e a idéia da morte ficou de lado.
Pavor pela falta de ar
A Fräulein Mathilde tivera dois irmãos que morreram tuberculosos e, de vez em quando, contava-nos a história melancólica da morte deles. Ela falava sobre a falta de ar, e eu ficava apavorado, estatelado de horror diante da idéia de também vir a me faltar o ar no fim da minha vida, como faltara aos irmãos dela! Eu tinha delícias com o vento e gostava de todas as ventanias; mas, se percebia que uma pessoa sofria de algum problema de respiração, ou mesmo, se alguém me dizia que havia perdido o fôlego, eu discretamente começava a ofegar…
O Dr. Murtinho Nobre

Dr. Murtinho Nobre
O Dr. Murtinho era um médico homeopata, originário do Mato Grosso. Homem alto, teso, volumoso e saudável, bochechudo e vermelho, louro como um alemão ou um suíço e muito marcado pela varíola, mas de um certo modo que não o desfigurava. E a esmeralda mais agressivamente verde não teria a cor dos olhos dele, que emitiam interessantes cintilações.
Aliás, ele possuía um anel com uma esmeralda linda, que era o distintivo dos médicos. E eu, gostando muito de pedrarias, quando estava em presença dele nunca perdia oportunidade de olhar para a sua mão… Ele chegava à nossa casa com o ar de um clubman que vinha para fazer uma visita social, vestindo uma roupa toda enfarpelada como se entrasse numa cerimônia, e totalmente seguro de si. Cumprimentava a família e ia ver o doente. Entrava em meu quarto pisando muito firme, com o tronco ereto, o braço atrás das costas e transmitindo um otimismo ovante. Várias vezes, estando indisposto, ao entrar o Dr. Murtinho eu sentia que retomava um ânimo extraordinário! Mamãe vinha atrás com passo miúdo e quase sem alcançá-lo, mas falando com ele; e eu ainda ouvia parte da conversa:
– Olhe, doutor, o Plinio também teve tal sintoma.
– Bom, vamos ver. Não há de ser nada.
Às vezes era uma gripe qualquer, mas eu tomava isso muito a sério, por não querer permanecer na cama… Então, o médico julgava se haveria “prisão” ou não e também decidia sobre algo a que eu era muito sensível: o regime alimentar.
Ele apalpava um pouco e utilizava um termômetro com cápsula de ouro, preso numa correntinha. A temperatura estava sempre baixa quando o Dr. Murtinho a media, mas, assim que ele saía, ela subia… Curiosamente, após sua visita, eu tinha de fato a sensação de que a doença tinha sido encurtada e de que o Dr. Murtinho me tinha feito caminhar para a cura. Eu gostava muito dele, e ele parecia ter simpatia por mim.
Na saída, havia mais um pouquinho de relacionamento social: alguém o acompanhava até a porta ou, inclusive, até o portão. E como ele estava sempre ricamente vestido e primorosamente bem-arranjado, com uma discreta florzinha na lapela – às vezes um jasmim muito aberto e bem colocado –, de vez em quando uma pessoa de minha casa, para ser amável, comentava:
– Dr. Murtinho, como o senhor está bem trajado! Que jasmim bonito e perfumado o senhor tem aí!
Ele respondia:
– Homem, é jasmim? Ah! É verdade! Olhe, nem sei que roupas estou usando. São coisas que o Kussinoki põe… Foi ele quem me deu isto, na hora de me vestir.
O Kussinoki era um camareiro japonês fidelíssimo que o servia. Era o “homem dos sete instrumentos”! Escolhia as roupas do médico, enfeitava-o e punha-lhe a flor na lapela ao sair de casa… Quando o médico encerrava o trabalho, o Kussinoki ia para a farmácia e trabalhava na preparação dos remédios homeopáticos, voltando de noite à casa dele. Era o “Sancho Pança” perfeito do Dr. Murtinho!
No fim da visita, o médico saía de nossa casa descendo a escada com muita segurança, sentava-se no seu riquíssimo e magnífico automóvel de luxo, com chauffeur, e ia visitar outros clientes.
A homeopatia, “heresia” da medicina?
Um ramo da minha família era partidário da medicina homeopática e outro, da medicina alopática. Os do ramo da alopatia eram pessoas muito fortes, mas tinham doenças de arrebentar! Permaneciam um mês de cama, tinham altos e baixos tremendos e tomavam inúmeros remédios e injeções.
Eles tendiam a pensar do seguinte modo: “A homeopatia não é uma ciência, pois a única ciência médica é a alopatia, medicina oficial imposta como verdadeira pelo consenso. Todos os sábios julgam assim; logo, todos os homens têm de pensar do mesmo modo. A homeopatia, pelo contrário, é uma ‘heresia’ contra o bom senso geral e contra a ciência admitida como tal. Portanto, justificam-se perante ela duas posições da parte da alopatia, estabelecida em todos os postos de mando: o direito de caçoar dela e o de negar-lhe paridade, rebaixando os médicos homeopatas a uma situação secundária”.
Mas o revide da homeopatia era bem feito: todos os verdadeiros médicos homeopatas eram formados em alopatia pela Faculdade de Medicina; e acompanhavam de algum modo a evolução da alopatia, de maneira que eles insinuavam certas coisas nas conversas, como o fazia o Dr. Murtinho Nobre:
– Bem, a alopatia está curando determinada doença de acordo com uma recentíssima invenção médica, mas eu sou homeopata e aconselho dulcamara e nux vomica!
Isso trazia à corrente homeopática de minha família – uma de cujas componentes era mamãe – um reconforto maravilhado, vendo que o médico deles conhecia a alopatia e, portanto, discutia com os alopatas no mesmo nível deles. De outra parte, o Dr. Murtinho, sendo um homem muito vistoso e ganhando bastante, dava segurança à homeopatia para enfrentar a alopatia no terreno psico-social.
Plinio a um passo da morte
Em certa ocasião, a morte realmente me visitou.
Como todo menino, eu sempre acordava alegre. Mas certa manhã, lembro-me de ter despertado fraquíssimo, quase sem forças para sentar-me na cama. Imediatamente chamei mamãe e, quando ela veio, eu disse com a voz embargada:
– Meu bem, não me levanto agora, pois estou me sentindo muito mal.
– O que você sente, meu filho?
– Uma dor de garganta horrorosa.
Ela fez-me abrir a boca e notou uma inflamação medonha em minha garganta, mas não me disse nada. Apenas mandou alguém me lavar e conduzir-me de volta à cama. Uma criada veio depois trazer-me o café da manhã, pois, graças a Deus, o apetite nunca me faltou e, mesmo nessa situação, para comer eu estava a postos! Mas sentia-me tão mal que quase me arrastava… Mamãe, então, fez trazer o brinquedo das “grandes circunstâncias” para me distrair e colocou-o sobre a minha cama: a grande caixa representando uma aldeia francesa para ser composta pelas crianças. E disse:
– Vá brincando aqui, enquanto eu chamo o médico.
Sentei-me e já não estava pensando muito na doença, embora eu respirasse miseravelmente mal. Em determinado momento, tive a sensação de um vazio que me invadia; percebi estar, de repente, privado da força necessária para permanecer sentado, e tentei de todo jeito segurar-me em algo para não cair de costas e não me entregar à doença. Agarrei-me às grades da cama nos dois lados, julgando poder resistir, mas senti que os meus braços também se deixavam tomar por esse misterioso vazio. Minhas mãos se abriram e eu caí sobre o travesseiro, gritando:
– Mamãe! Mamãe!
Ela veio correndo e daí a pouco estava o Dr. Murtinho Nobre em meu quarto. Examinou-me, não comentou nada diante de mim, saiu do quarto com mamãe e explicou:
– Dª Lucilia, o Plinio está com crupe – ou angina diftérica – e pode morrer…
Tratava-se duma infecção freqüente em crianças, a qual faz a garganta inchar de tal maneira que acaba obstruindo a respiração, e o doente morre por asfixia. Minha mãe ficou transida de susto! A sua primeira providência foi manter-me deitado na cama por tempo indefinido e a segunda consistiu em proibir as outras crianças da família de entrarem no meu quarto, pois a doença era contagiosa e ameaçava propagar-se entre elas. Mamãe poderia perfeitamente contratar uma enfermeira para tratar de mim, pois, sendo muito doente do fígado, se ela contraísse o crupe certamente morreria, mas ela nem quis saber de enfermeira, do começo até o fim do tratamento!
Eu ouvi no quarto contíguo uma discussão muito viva entre mamãe e minhas tias, a respeito do meu estado de saúde. Naquele tempo as famílias eram muito unidas e, quando alguém adoecia, compareciam as irmãs, as cunhadas e outros membros da família. Uma das minhas tias tinha um cunhado – que, aliás, morreu quando eu era ainda pequeno – professor na Faculdade de Medicina e ótimo otorrino. Ela então disse:
– Olhe, a opinião de meu cunhado é que o Plinio tem de ser operado!
Mamãe, que não desejava a operação, perguntou:
– Por quê?
– Esse Murtinho é um charlatão, pois a homeopatia é charlatanismo e seria ridículo querer curar o Plinio por meio dela. Se você não chamar o meu cunhado, o seu menino vai morrer!
– Vou ver. Agradeça ao seu cunhado pela opinião e pela cortesia.
Ouvindo a conversa delas, eu pensava: “Não quero essa operação dolorida, mas… e se eu morrer, de repente? Não vale mais a pena agüentar a dor? Vamos ver o que eles resolvem…”. E permanecia na expectativa de ver entrar alguém com um boticão para me cortar a garganta…
Mamãe hesitou, pois percebeu o fundamento do raciocínio da minha tia: para tratar uma dorzinha de garganta a homeopatia estava bem, mas diante de uma doença violentíssima, que podia matar-me de uma hora para outra, não parecia melhor chamar um médico que resolvesse o caso pela cirurgia? Certamente rezou e depois telefonou ao médico, dizendo:
– Dr. Murtinho, eu tenho muito medo e confesso com franqueza: embora eu deposite no senhor e na homeopatia a confiança que o senhor conhece, está em jogo a vida de meu filho. Estou sofrendo toda a pressão da família para chamar o médico alopata. O que o senhor me diz a esse respeito?
– A senhora dê ao Plinio tais medicamentos e não se assuste: a febre ainda vai subir e, se o remédio fizer efeito, ele em certo momento expelirá da garganta uma membrana infeccionada e estará curado. Pouco antes das três horas da tarde, a senhora esteja com uma toalha no colo para receber essa membrana. Depois mande imediatamente uma das criadas levar esse pano à horta e enterrá-lo bem fundo. É necessário ter o buraco já pronto, pois trata-se de algo ultra-contagioso e se a senhora o puser em qualquer outro lugar da casa, contaminará alguém! Se até as três horas ele não expelir a membrana, a senhora pode chamar o médico alopata que desejar. Este fará uma operação doloridíssima e perigosa na garganta do menino e não é garantido que ele se salve. A senhora é mãe dele e fará o que desejar. Eu lhe sugiro esperar até essa hora.
Ela, então, mandou abrir uma espécie de pequeno “túmulo” para esse efeito no quintal da casa, entre as couves e os pés de milho. Tudo isso aconteceu de manhã; eu não ouvira a conversa, mas apenas percebi que mamãe resolvera tratar-me pela homeopatia. Ela entrava no quarto andando na ponta dos pés, com um sorriso de afeto, tendo um copo na mão e dizendo:
– Meu filhinho, chegou a hora de tomar o remédio.
E começava, então, a dar-me certos medicamentos em gotinhas e pequenas pastilhas; um dos quais, recordo, chamado tarantula cubensis – ao que parece, extraído de alguma aranha – e eu pensava: “Mas isto aqui é tão insignificante que nem é remédio! Eu vou piorar cada vez mais!”. Entretanto, como eu depositava em mamãe uma confiança total, concluía: “Bom, se ela quer, vou tomá-lo!”.
Ela sabia que eu sentia dor ao ingerir, mas fazia aquilo entrar na minha garganta de tal modo que a suavidade de seu trato compensava o meu sofrimento físico. Sempre observador, apesar da febre, da dificuldade de engolir e da fraqueza levada até a evanescência, eu não deixava de sentir a atitude dela: a benquerença, a compaixão e a pena, pois minha aflição era assumida por ela inteiramente, dando-me a entender o seguinte: “Vamos atravessar isto juntos”. Ela sofreu muito mais do que eu, na previsão do que poderia acontecer.
Tanto quanto isso possa ser explícito na mente de uma criança, em que as analogias são ao mesmo tempo vivazes e imprecisas, eu pensava confusamente: “Ela é para mim o que essa água fresca está sendo para a minha doença: um refrigério. Eu me sinto inteiramente refrigerado na companhia dela. Se mamãe for a minha advogada no juízo de Deus, estou arranjado!”.
Curado pela medicina homeopática
O médico me encorajava a comer e a dormir o mais possível, para meu organismo resistir; mas eu acordei da sesta pior do que nunca! Comecei então a mostrar os sintomas de uma situação grave: não tinha coragem de me mexer, não havia posição em que me acomodasse e, às vezes, nem sabia mais quem eu era… Talvez fossem os temíveis 41 graus daquela febre que se apoderava de mim.
Aproximadamente às três horas da tarde, perdi o contato com o mundo exterior e parecia-me haver caído no caos. Então tive a sensação da morte: comecei a espernear pela impossibilidade de respirar, com estertores em todo o corpo e tendo a idéia de que o fim havia chegado. Quis falar e gritar por mamãe, mas não consegui. Ela, apavorada, permanecia perto de mim.
Em certo momento, dei sinais de querer expelir alguma coisa e ejetei, então, a tal membrana numa toalha de rosto colocada sobre o colo de mamãe. Ela ficou contentíssima! Imediatamente dobrou a toalha, acariciou-me um pouquinho e disse para alguém:
– Chame a Magdalena, chame a Magdalena!!
Quando esta chegou, ela disse:
– Magdalena, com a ponta dos dedos, pegue nisto e enterre no buraco que foi feito lá no fundo do quintal. E respire apenas o indispensável enquanto fizer isso.
A criada jogou a toalha no local indicado e cobriu-a com terra, para os micróbios lá se arranjarem como pudessem! Graças a Deus, nem mamãe nem ela foram contagiadas em nada. Depois de me ter ajudado a me recompor um tanto, mamãe telefonou ao médico:
– Dr. Murtinho!
– É Dª Lucilia, não é?
– Sim!
– Não precisa dizer mais nada, pois a sua voz alegre já me diz tudo: a senhora está contente porque o Plinio expeliu a membrana. Agora não há mais perigo. Conserve o menino na cama por mais dois ou três dias, vá alimentando-o e o assunto está resolvido.
Muito lentamente, eu senti a vida voltando: olhava para os bordos da cama, comecei a me mover, mas ainda não conseguia me sentar. Nem de longe pensava na caixa com a minha aldeia francesa! Como era fundo o “poço” no qual eu havia entrado! Que coisa terrível! À noite, já me encontrava melhor e muito alegre, pois não iria daquela vez para o Céu; pelo contrário, continuava com mamãe! No terceiro dia, já estava restabelecido e em liberdade.
A propósito dessa doença, tirei uma lição: às vezes, nós passamos por sustos medonhos mas, tendo coragem, atravessamos a situação! E, por causa disso, fui me habituando, desde pequeno, a prever a adversidade e a considerar a possibilidade do mal que pode acontecer.
Dª Lucilia sofre um acidente
Naquela época, a tendência geral das pessoas que constituíam meu ambiente consistia em levar uma vida despreocupada e agradável. Entretanto, os últimos rumores e bafejos do período romântico ainda pairavam de cá, de lá e de acolá, inclusive na minha família. Então, quando acontecia algum drama, engrandeciam-no e davam-lhe um colorido carregado, maior do que ele comportava. Era uma lufada de romantismo a percorrer o ambiente, em meio às valsas da Belle Époque que os ruídos da guerra iam abafando na Europa.
Em certa ocasião, no horário em que as luzes de casa já estavam acesas e, na rua, a luminosidade indicava o fim do crepúsculo e o começo da noite, notei, na entrada de nossa residência, duas ou três pessoas mais velhas da família conversando. Elas estavam certas de que eu não conseguiria entender, pois falavam a meias palavras e, portanto, nem sequer me mandaram embora. Fiquei ali escutando e, em certo momento, percebi por alguns sinais tratar-se de mamãe: tinha sucedido um acidente com ela.
Contaram-me, então, que ela estivera no escritório de meu pai, no centro da cidade, para tratar qualquer assunto com ele e depois foi ao dentista, em frente, no mesmo andar do prédio. E, ao descer a escada – muito íngreme – para sair, ela escorregou. A fim de não rolar degraus abaixo, segurou-se numa das pequenas colunas que suportavam o corrimão; ao fazer isto, sofreu um deslocamento muito forte no braço.
Mas essa informação me foi comunicada à maneira romântica, bem baixinho, como se fosse um acontecimento terrível. Naturalmente, isso me causou um enorme sobressalto, pois não tinha bem a idéia de quais seriam as conseqüências de um acidente dessa natureza; e, ouvindo dizer também que mamãe estava sob o efeito do clorofórmio, imediatamente pensei que ela seria operada, correndo risco de vida. Quando alguém me avisou que haviam telefonado para o escritório de meu pai e que, daí a pouco, ela chegaria numa ambulância para ser levada ao seu quarto, fiquei ainda mais nervoso e com a impressão de uma grande desdita, pois, para mim, a ambulância tinha relação com o cemitério. Na atmosfera das lufadas românticas, aquele grande carro, com a campainha tocando, parecia a desgraça que passava…
Criou-se um ambiente de drama em casa, e todo o mundo perdeu um pouco a cabeça. Percebi estarem tomando providências da vida doméstica com certo açodamento e, então, recomendaram-me que me preparasse e deixaram-me no escritório de meu pai.
Preparar-me…! Lembro-me que comecei a andar de um lado para outro, muito preocupado e, em certos momentos, corria do fundo da sala, pulava e dava um pontapé na porta, procedendo assim um número incontável de vezes. Era a reação característica de uma criança, mas indicava bem o nervosismo e a aflição em que eu estava.
Qual era a razão dessa atitude? Nunca fui uma pessoa frenética; mas, nessa ocasião, duas idéias diversas se mesclavam no meu espírito infantil: em primeiro lugar, a possibilidade da morte de mamãe, o que para mim era, literalmente como se alguém houvesse abalado a sustentação do globo terrestre, pelo afeto único que eu tinha por ela. Era pior do que o fim dos tempos, pois tudo terminaria para mim; eu ficaria vivo, diante de uma longa existência, num mundo que havia acabado. Para que viver? A vida seria um fardo… Por outro lado, também com ingenuidade de criança, eu imaginava estar ela sofrendo uma dor insuportável, o que me fazia recear muito por ela, independentemente de eu ser seu filho. Eu não queria que ela passasse por essa dilaceração, nem que fosse sujeita à hecatombe da morte!
De repente, ouvi o ruído da ambulância que a vinha trazendo e, logo depois, passos na escada: era trazida uma maca. A idéia de mamãe estar sendo carregada e, portanto, entregue às mãos de outros, foi para mim ainda mais pungente e trágica. Nesse momento entrou alguém na sala onde eu estava e disse:
– Olha, sua mãe está muito traumatizada. É melhor não aparecer, pois ela tem muitas dores e vai ficar ainda mais aflita por ver a fisionomia com que você está agora. Mais tarde, quando tudo estiver resolvido, você e sua irmã serão chamados.
Eu não desobedeci, pois queria ao menos prestar essa pequena colaboração de não aparecer. Então, coloquei a cabeça para fora da porta e vi passar a padiola de longe, levando-a para o seu quarto de dormir. Ela estava um tanto desacordada e gemia muito, o que me trouxe certa tranqüilidade, pois percebi estar ela viva; depois notei que havia sido posta na cama. Observei os médicos confabulando entre si e deduzi, vagamente, terem eles chegado a uma conclusão animadora. Pareceu-me que todas as coisas voltavam a entrar nos seus eixos e, um pouco mais calmo, pensei: “Enfim, isso está tomando um bom caminho”. Vi também os enfermeiros entrando e saindo, e ouvi alguém ordenar:
– Traga água!
Percebi então, pela movimentação, que iam engessar-lhe o braço. Começava para ela o padecimento da recuperação. Pouco mais tarde, os rumores começaram a se aquietar e logo saiu um médico com a sua malinha, dizendo:
– Podem estar tranqüilos. Se acontecer qualquer imprevisto, mandem me avisar, pois tomo o automóvel e venho logo.
Querer bem, até o fim!
Afinal chamaram-me, junto com minha irmã e minha prima, e alguém nos disse:
– Vocês agora entrem no quarto dela na ponta dos pés, pois, no estado em que está, qualquer ruído pode incomodá-la. Cada um dê um beijo rápido na fronte dela e saiam imediatamente.
O quarto estava tomado pelo odor do clorofórmio. Entrou primeiro minha irmã e osculou-a, mas não vi bem o que se passou nesse momento. Quando chegou a minha vez, recomendaram:
– Cuidado para não sacudi-la!
Os membros da família já conheciam os meus agrados truculentos… Aproximei-me, pé ante pé, mas mesmo assim pisei com muita força. Então disseram:
– Psiu! Não faça barulho com os pés!
Havia, na cabeceira, um abajur coberto por um tecido de gaze muito escuro, de cor violeta, para evitar que a luz elétrica incomodasse a vista dela. Aquela penumbra dava-me a impressão de um ambiente inteiramente diferente do habitual. Mamãe estava deitada sobre o lado direito, com o braço esquerdo engessado, o que me pareceu terrível, pois eu nunca tinha visto algo semelhante. A sua fisionomia revelava uma dor profunda e ela gemia baixinho, à maneira de uma pulsação regular, num estado de resignação e ordenação completas, parecendo dizer: “É assim; faça-se a vontade de Deus. Eu gemo e me desabafo por esta forma, pois isso é próprio à minha natureza, mas se Deus quis e Deus fez, Ele seja bendito!”. Essa foi a sua atitude diante de todos os sofrimentos físicos e morais, ao longo da sua vida: silêncio, recolhimento, normalidade, afabilidade, bondade e humildade.
Pensei: “Que ordem, que doçura e que tranqüilidade!”. Cheguei perto dela e beijei-a na fronte, sem falar. Ela não abriu os olhos, mas, pelo ósculo, percebeu que era eu e disse:
– Filhão, é você?
Eu respondi:
– Mãezinha, sou eu.
Então abriu os olhos, fitou-me um instante e eu entendi que ela acordara completamente. Deu-me muitos beijos e depois disse:
– Filhão, como vai de seu resfriado? Você já tomou o seu remédio?
Eu estava com um pequeno defluxo – uma doençazinha insignificante de criança – e ela, antes de ir à cidade, dera à Fräulein a ordem de ministrar-me um remédio de homeopatia, metodicamente. Mas aquilo causou-me uma impressão profundíssima e comoveu-me muito: ela lembrava-se do meu remédio, num momento de tanta aflição! Respondi-lhe que estava passando bem e beijei-a várias vezes na face. Então, fizeram-me sinais para sair, pois já havia passado o tempo, o que naturalmente eu não queria.
Retirei-me do quarto pensando: “Está vendo? Ela se recorda disso num mar de dores… Ninguém é assim; ninguém quer os outros dessa maneira e ninguém me quererá tanto bem! Querer bem, até o fim, é isto! Eu, na minha vida, quererei as pessoas a quem deva estimar, até onde puder e até onde for razoável, pois é uma linda coisa querer bem. Como é bonito o que mamãe fez!”.
Depois, mais tarde, fiz outra reflexão: “Eu vou ser, talvez, o único filho do meu tempo que vai querer mais bem à mãe, do que a mãe quer ao filho. Vou superar os outros filhos e vou querê-la nessa proporção!”.
Aquele episódio perfumou a minha infância. Às vezes, quando ela se manifestava exigente e eu era levado a me impacientar, lembrava-me daquela cena e concluía: “Não, ela tem razão!”.
A “gripe espanhola” no Brasil
Depois da Primeira Guerra Mundial difundiu-se pelo mundo inteiro uma epidemia chamada “gripe espanhola” – talvez por ter sua origem na Espanha – que chegou ao Brasil com enorme poder de contágio, causando mortes às torrentes. Foi um flagelo terrível.
 Eu mesmo vi os caminhões levando pilhas enormes de corpos, em ataúdes improvisados feitos com tábuas brancas de caixotes, amarrados com cordas para não caírem e sem panos pretos nem outros ornamentos, pois morria tanta gente em São Paulo que o serviço funerário não era capaz de enterrar normalmente todos os falecidos. Eram cavadas imensas covas nos cemitérios da Consolação e do Araçá – os únicos da cidade – e nelas eram depositados os caixões aos montes. E esses veículos iam depressa, para evitar o empestamento do ambiente.
Eu mesmo vi os caminhões levando pilhas enormes de corpos, em ataúdes improvisados feitos com tábuas brancas de caixotes, amarrados com cordas para não caírem e sem panos pretos nem outros ornamentos, pois morria tanta gente em São Paulo que o serviço funerário não era capaz de enterrar normalmente todos os falecidos. Eram cavadas imensas covas nos cemitérios da Consolação e do Araçá – os únicos da cidade – e nelas eram depositados os caixões aos montes. E esses veículos iam depressa, para evitar o empestamento do ambiente.
Às vezes, a epidemia se manifestava por um forte resfriado, que logo se transformava numa gripe inusual e violentíssima, a qual por sua vez degenerava em pneumonia com pleurisia. O resultado dessas doenças infecciosas, sobrevindas com muita força, era a morte.
Em outras ocasiões, entretanto, o ataque começava de outra maneira, enquanto a pessoa estava andando ou trabalhando, o que aliás aconteceu com meu pai. Ele se dirigia do seu escritório ao fórum, quando sentiu uma ligeira tontura e percebeu ser esse o ósculo de morte da gripe. Tomou um táxi e voltou para casa correndo; mas, no fim do dia, estava inteiramente normal, e sua vida se conservou por muitíssimos anos. A gripe apenas batera nele com a “ponta da asa”, sem levá-lo, o que foi considerado um caso raro; pois a outros, depois desse primeiro assalto, ela ceifava terrivelmente. O atingido não dava importância àquilo e continuava a trabalhar, mas depois desmaiava; e, às vezes, era jogado na cova sem estar morto ainda, pois o serviço funerário não tinha tempo para esperar! Talvez ainda acordasse e, impossibilitado de sair, morria asfixiado no meio dos cadáveres.

Gripe espanhola em São Paulo – o serviço funerário transladando corpos ao cemitério.
O Rio de Janeiro foi um centro de contágio maior do que São Paulo. Havia numerosas casas de dois ou três andares, com lojas no andar térreo e quartos alugados em cima, onde morava muita gente. Nesses locais morreram pessoas em quantidade e os cadáveres eram postos na rua; mas os vizinhos ou parentes sempre tomavam o cuidado de deixar uma vela acesa junto a cada um, pois eram tempos em que existia certo respeito pela morte e pela grandeza terrível que a cerca. Depois iam tratar dos que na casa ainda estavam vivos, enquanto os carros de lixo passavam pelas ruas e o morto era recolhido como estivesse, levado para o cemitério e enterrado, sem ninguém fazer a cerimônia de depositá-lo num caixão.
Para as crianças, os médicos davam recomendação de utilizar um quadradinho de cânfora furado, amarrado num barbante e pendurado ao pescoço como se fosse uma jóia, o dia inteiro; pois essa matéria era tida como bactericida e defesa contra os micróbios da gripe. Nós achávamos divertido andar pelas ruas com aquilo e brincávamos de cheirar a cânfora; mas esta tem o efeito de diminuir a vitalidade das pessoas e, então, a meninada estava sempre quieta, sem vontade de conversar, de correr ou de fazer qualquer coisa e inalando aquela substância, até que passou o perigo da epidemia, ao cabo de alguns meses. Assim foi a gripe espanhola.
Estranhas aparições durante a sesta

O espelho de Dª Lucília
Entre o meu quarto e o de meus pais existia uma sala de toilette deles, com portas para ambos lados, onde havia armários com roupas e um móvel de minha mãe com pequenas gavetas, o qual comportava um grande espelho de bordaduras biseautées [biseladas], em que ela podia se ver de corpo inteiro.
Às vezes eu acordava da sesta antes da hora marcada, mas tinha ordem de permanecer deitado. Quando isso acontecia, eu olhava pela porta entreaberta e observava o espelho. Qual não foi minha surpresa quando, um dia, olhando sua beirada, percebi uma espécie de “formigamento” e notei certos movimentos como se alguns pequenos “cordões” de luz variada começassem a se mexer! De repente, vi sair de dentro do espelho uma figura vaporosa: era uma senhora de trinta e cinco a quarenta anos, parecendo toda feita de fumaça cinzenta, penteada à moda da Belle Époque, ou seja, com os cabelos formando uma esfera, chamada chignon; e vestida com uma robe de chambre grande e simples, de mangas compridas, que chegava até os pés e se abria…
Ela se deteve e olhou longamente para mim, enquanto eu também a observava. O mais curioso é que eu continuava deitado de corpo inteiro, muito calmo e sem nem sequer mudar de posição. Entretanto, achei a coisa bastante estranha e tive um pouquinho de medo, com a vaga idéia de que ela podia ser um espírito ou um fantasma. Continuei olhando e pensei: “O que deseja essa mulher comigo?”. Mas, por certo fator imponderável, eu tinha certeza de que essa figura não me seria funesta nem benfazeja e, então, concluía: “Ela é transparente e atravessa as coisas. Isso não tem nada a ver comigo. Vou deixá-la passar e está acabado!”.
A mulher me espiou e depois sumiu; mas começou a me aparecer todos os dias, na mesma ocasião, e eu acabei contando o acontecido a mamãe. Ela, preocupada, avisou meu pai, o qual, sendo um homem muito cauto, disse:
– Eu vou tomar uma providência: ficarei sentado ali com o revólver em punho e, quando a mulher passar, vou ameaçá-la.
Ele, certamente, não acreditava tratar-se de uma alma, mas pensava que alguma empregada vestia aqueles trajes para me causar medo… Nesse dia o espírito teve o bom senso de não aparecer, mas depois voltou a apresentar-se. Um dia, a mulher parou diante da porta, junto a mim, e fez um gesto com o dedo indicador, chamando-me. Esse chamado queria mais ou menos dizer: “Abandone seus pais e fuja comigo”. Senti uma certa ação diabólica e notei algo de malfazejo desprendendo-se do seu olhar. Deitado como estava, respondi “não” com o dedo; pois percebi que, se eu a seguisse, engajar-me-ia num mundo de mistério e pensei: “Até lá não vou”.
Ela sumiu e nunca mais apareceu! Não tenho idéia de quem fosse essa mulher.
1 Dr. Plinio refere-se à história infantil “O Anjo”, de Hans Christian Andersen, editada em português no ano de 1915.











Deixe uma resposta