Fortaleza, prudência e diplomacia
No mundo dos alunos, qualquer menino que se levantasse em sentido contrário à pressão geral seria imediatamente visado, apontado, ridicularizado e isolado, perdendo depois todo prestígio, influência ou capacidade de ação.
Eu via em torno de mim um ou outro colega que tentava manifestar-se de modo tímido na linha do bem, ou, às vezes, deixava inadvertidamente transparecer algo de bom que aprendera em casa. Bastava isso para começarem logo as gargalhadas e os apelidos.
A Religião seria apenas para as mulheres, pois o ateísmo parecia a posição própria do homem. Então, aquele que fosse visto, por exemplo, comungando ou rezando o terço numa igreja seria tido como um efeminado, um poltrão a quem se podia fazer qualquer desaforo, pois não teria a coragem nem a garra necessária para revidar.
Essa ideia era um corolário da calúnia que se espalhava contra a pureza. Dizia-se que os jovens tinham de praticar a impureza, sob pena de apanhar tuberculose. A castidade e a virgindade do homem eram tidas como sinais de falta de força e não era considerado inteiramente varonil quem fosse casto. Assim, o rapaz puro era considerado um jagodes, pouco categórico e incapaz de impor medo.
Desprestígio dos bons
Infelizmente, é preciso dizer que, por uma espécie de coincidência e um conjunto de circunstâncias, os poucos adolescentes que praticavam a pureza e eram piedosos, em geral davam a pior ideia possível da Religião – com algumas exceções – e pareciam justificar aquele conceito errado. Eram, de fato, uns molengas bobos aos quais ninguém dava importância, que iam comungar ou confessar-se com pescoço torto e carinha de idiota. De maneira que, por exemplo, se numa família houvesse cinco irmãos e um deles fosse católico praticante, era normal que esse fosse o mais mole de todos. Pelo contrário, aquele de quem se ouvia dizer que era o mais enérgico, provavelmente era o pior. Havia uma disposição de espírito geral, pela qual os piores ousavam todo o mal e os melhores se encolhiam apavorados.
Quando alguém tratava o católico de modo arrogante, este não respondia ou fazia-o sem impacto de lógica, de modo adoçado e conciliador. Ouvindo uma objeção contra a doutrina católica, dava um sorriso com sentimento mole, derretido, enternecido e carinhoso, dizendo:
– Será que você não acredita na bondade de Jesus Cristo?
O outro dava uma gargalhada e dizia:
– Carola, besta!
Soltava uma palavra imoral, contra a qual o bom não tinha coragem de protestar, e continuava:
– Está vendo? Você nem responde ao que eu disse! Mostre agora que é homem e proteste!
O menino piedoso dava um sorriso bobo:
– Ora, não se zangue tanto assim.
Havia uma risada geral dos que presenciavam a cena, seguida de uma conclusão: “Se eu praticar a Religião Católica, serei mole como ele”.
O resultado era que esses aderiam ao mal, pelo desprestígio e pela derrota do melhor. A moleza, a covardia e a entrega dos bons criava condições pelas quais os neutros tinham medo de serem bons também, para não imitar àqueles.
Eu pensava: “Coisa estranha! Por que todo bom tem de ser assim? Por que esse não brame, aquele não vocifera e aquele outro não protesta? Qual é a explicação disso?” E percebia que havia toda uma situação falseada, no confronto entre bons e maus.
Ora, eu tinha a obrigação de afirmar-me católico, de rezar e frequentar os Sacramentos, diante de colegas que reputavam isso horrível, mas não podia deixar colar em mim essa ideia do menino mole. Não queria ser um pária e sentia que tinha o dever de não sê-lo, convicção, aliás, na qual minha consciência e minha apetência estavam de acordo. Por isso, tinha de ser visto confessando e comungando, mas não conversando com os carolas, nem tendo nada em comum com eles, para dar a entender que eu não via a Religião como eles a viam.
Então, nesse tempo, justamente no período em que eu tinha mais dificuldades em travar a batalha contrarrevolucionária, ocorreu algo que me causou grande entusiasmo.
Uma vocação sacerdotal
 O Pe. Costa era um jesuíta combativo, à maneira de Santo Inácio de Loyola. Durante as aulas, às vezes entrava nos casos concretos dos alunos, falando muito a favor dos bons contra os maus, e “enchia de brasas” a sala, o que me encantava, pois, assim, os que mantinham a castidade sentiam-se protegidos e amparados.
O Pe. Costa era um jesuíta combativo, à maneira de Santo Inácio de Loyola. Durante as aulas, às vezes entrava nos casos concretos dos alunos, falando muito a favor dos bons contra os maus, e “enchia de brasas” a sala, o que me encantava, pois, assim, os que mantinham a castidade sentiam-se protegidos e amparados.
 Um deles chamava-se José Gonzaga de Arruda1, menino ostensivamente puro, o qual dava um excelente exemplo no colégio. Outro era um rapazinho de minha divisão e de minha idade, forte, troncudo e um tanto vesgo, membro de certa família de muita importância em São Paulo.
Um deles chamava-se José Gonzaga de Arruda1, menino ostensivamente puro, o qual dava um excelente exemplo no colégio. Outro era um rapazinho de minha divisão e de minha idade, forte, troncudo e um tanto vesgo, membro de certa família de muita importância em São Paulo.
Um dia, de repente, correu a informação de que esse aluno desejava ser Padre. Aquilo era curioso, pois, apesar de ter bons movimentos de Fé, ele se interessava quase exclusivamente por bicicletas, e quem quisesse conversar com ele sobre qualquer outro assunto, não conseguia. Entretanto, tendo combinado com o seu diretor espiritual, ele, de fato, contou no colégio que, quando fosse um pouco mais velho, entraria no seminário da Companhia de Jesus, pois tinha vocação sacerdotal.
Em certa ocasião, ficou muito doente e passou algum tempo sem ir ao colégio. E era de estilo no São Luís que, quando algum aluno adoecia, um dos Padres fazia um pequeno elogio do ausente:
– Ele está doente. Possui tais e tais qualidades. Vamos rezar por ele!
Então, falando a respeito desse menino, o Pe. Costa disse:
– Ele teve a coragem de dizer publicamente que vai ser Padre. Todos têm obrigação de respeitá-lo e não podem caçoar, pois ele não está apenas no direito de ser o que deseja, mas tem o dever de sê-lo, uma vez que o sacerdócio é um chamado de Deus muito especial. Os que não concordarem com ele, vão às favas, pois, se Deus lhe deu essa vocação, não serão vocês que vão impedi-lo de cumpri-la!
Tudo isso era para mim um néctar, pois, apesar de eu não ter a intenção de ser Padre – pelo contrário, tinha a ideia muito definida de trabalhar como leigo a favor da Igreja –, de qualquer maneira via com muito agrado que um outro quisesse sê-lo, e sobretudo me entusiasmava ver um jesuíta tomar a defesa do bem com aquele calor.
Uma bofetada e suas consequências
E o Pe. Costa continuou:
– Ele é um rapaz que pratica a castidade. E outro dia fez algo que eu aprovo inteiramente.
Então, narrou que um menino de muito prestígio no colégio se havia aproximado desse aluno e lhe perguntara, dando risada e zombando:
– É verdade que você vai ser Padre?
Ele respondeu:
– Sim, provavelmente vou ser Padre.
O menino deu uma gargalhada:
– Você, Padre?! Que horrível! Olhem aqui! Venham ver! Ele quer ser Padre!
– Quero! E você, o que tem com isso?
– Tenho que você é meu colega! E não quero que um colega meu tome uma atitude ridícula! Você não percebe que é um idiota, um efeminado?
E imediatamente disse uma palavra imoral, para provocá-lo. Quando o insultado ouviu aquilo, fez uma fisionomia séria, sendo logo interpelado pelo outro:
– Por que você não riu?
Então, numa atitude muito distendida, ele deu um passo para frente e disse:
– Quer saber por quê? Vou te explicar.
Abriu o braço e deu-lhe uma bofetada colossal, inopinada e sonora, dessas que ficam retinindo no ouvido. E acrescentou:
– Agora você tem a minha resposta.
Teria sido natural que os dois começassem uma briga e rolassem no chão, mas o menino esbofeteado sentiu-se tão aturdido e assustado que, em lugar de enfurecer-se ou reagir, respondeu:
– Assim também não se faz.
Deu meia volta e retirou-se, quieto e desapontado, enquanto os outros que presenciavam a cena também se dispersaram.
O Pe. Costa concluiu:
– Foi uma lição para todo o colégio! Ninguém mais provocou esse aluno. Se ele tivesse sido mole, armariam uma vaia contra ele. Por isso, dou-lhes o seguinte conselho: nunca permitam que seja dita uma palavra imoral na presença de vocês. Se algum colega o fizer, não duvidem, imitem o aluno de quem lhes falei e respondam imediatamente, com fisionomia séria! Uma boa bofetada, dada na boa hora, torna moles os maus e fortes os fracos. Depois, o prefeito da divisão2 e a direção do colégio garantem o resultado da briga!
Então, procurei aproximar-me daquele rapaz, mas encontrei muita frieza da parte dele e percebi que, apesar do seu zelo pela moralidade, ele dissentia de mim em inúmeros pontos nos quais eu me diferenciava dos outros, e não percebia a totalidade da Revolução.
Algum tempo depois, ainda estando no colégio, ele desistiu de ser Padre. Não se afundou na imoralidade geral, mas deixou de reagir contra ela e, literalmente, se apagou. Encontrávamo-nos e sempre trocávamos cumprimentos com normalidade, como pessoas que se conhecem, mas sem especial solidariedade. Depois, quando saiu do colégio, perdi-o de vista e não sei que caminho tomou na vida.
Entretanto, ao longo de minha existência, por ocasião das muitas atitudes de firmeza que tenho tomado, com frequência me lembro daquela bofetada e do bom exemplo que esse colega me deu. Não se pode ter ideia do bem que me fez ouvir esse caso contado pelo Pe. Costa. Nesse momento tive um impulso no meu interior, que me levava energicamente a ser combativo e arrojado. Eu queria ser a prova viva de que um menino podia declarar-se católico, apostólico, romano e ser puro, mas também ser varonil, altaneiro e corajoso como um leão! E foi a partir de então que comecei realmente a sê-lo.
Inclusive me perguntava: “Qual é a parte do ensinamento católico que sustenta a tese de que a combatividade é uma virtude?” Procurei fundamento nos meus rudimentares recursos de Catecismo e, com algum esforço, consegui descobrir que se tratava da fortaleza.
Então respirei, aliviado.
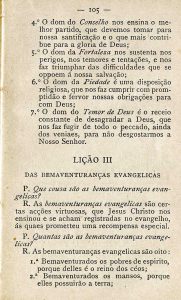
Página do livro de Catecismo pertencente a Plinio, na qual se pode ler a explicação sobre o dom da Fortaleza.
Dª Lucilia e as bofetadas
Assim, no colégio, mais de uma vez eu pensava: “Se pudesse distribuir umas belas dúzias de bofetadas, de cá, de lá e de acolá…! Mas, que atitude tomaria minha mãe, se me visse entrar em briga com algum rapaz? Ela, tão inimiga das violências, sempre desejosa de que eu tenha relações cordiais com todo o mundo, aprovaria uma bofetada?”
E a minha convicção era de que, se a consultasse, ela diria que eu devia ser ainda mais amável, pois a minha amabilidade venceria a brutalidade deles, o que seria verdadeiro no tempo da infância dela, quando ainda existia certa douceur de vivre3.
Entretanto, se ela soubesse que alguém tentava me perder, justificaria quaisquer bofetadas. Eu percebia também que ela faria o mesmo, encontrando-se na minha situação.
Segurança absoluta e pulso de ferro
Qual era o segredo de minha luta?
Como eu era absolutamente único no colégio, devia, em primeiro lugar, conservar o meu estandarte bem alto, enfrentando o ambiente com dignidade, altaneria e grandeza. Precisava criar para mim uma situação de prestígio ou, ao menos, de normalidade – na qual, entretanto, eu não pactuasse com o adversário – como se dissesse: “Sou assim mesmo, e não vai por menos! Não me envergonho e não recuo, pois estou no meu direito!”
Porém, não sendo fisicamente muito forte, não tinha grandes possibilidades de levar a melhor numa briga de colegas. Se esta sobreviesse, eu deveria enfrentá-la, pois não queria ceder, mas poderia sofrer uma derrota espetacular. Então, compreendi que o impacto de alma valia mais que o do corpo e que, para impor medo e respeito àquelas feras implacáveis da escola e ganhar a minha batalha, tinha de me apresentar com ar combativo, segurança absoluta e pulso de ferro, mostrando no meu porte, no meu olhar e na minha voz, a força que não possuía nos braços.
Mas, para isso, precisava ceder num ponto: devia me tornar um menino de gestos bruscos e atitudes um tanto abrutalhadas, já que isso era reputado varonil e calhava com a mentalidade da meninada. Se eu continuasse com as minhas maneiras muito afáveis e polidas, seria chamado de carola e efeminado, aumentaria de modo desmedido o fosso que me separava dos colegas mais revolucionários; levaria a tensão com eles a um ponto insustentável, determinaria um furacão de todos contra mim e seria derrotado. Portanto, devia introduzir no meu trato as durezas sem as quais o mal me agrediria, me desprestigiaria e me lançaria ao chão. E tinha de manifestar-me diante dos colegas de tal modo que os impedisse absolutamente de dizer que eu não era varonil.
Gotas de brutalidade
Entretanto, eu ainda duvidava: tomando essa atitude, não agiria contra a minha consciência? Deveria abrutalhar-me ou não?
Por exemplo, devia cumprimentar os colegas como eles mesmos o faziam entre si, de um modo muito simples, sem afabilidade? Eles já haviam começado a organizar uma ofensiva de risadas e desaforos contra mim, por causa do meu modo de cumprimentá-los, tradicional, cerimonioso e bonito, o que era tido como ridículo.
Eu pensava: “Se imitar o cumprimento deles, inalarei o espírito deles, mas, por outro lado, se eu mantiver o meu cumprimento, farei inevitavelmente o papel de tonto, uma vez que estou gastando gentilezas com pessoas que me respondem através de um aceno de sobrancelhas. E não posso fazer isso! Então, como agir?”
Pensando no assunto, cheguei à conclusão de que, a fim de evitar um entrechoque, tinha de arranjar um meio-termo, pelo qual eu conservasse todo o meu espírito de modo visível para evitar uma capitulação, numa atitude muda e simbólica de contínuo protesto; e isso de um modo tão claro que todo o mundo o percebesse, e tão discreto que ninguém tivesse o que dizer. No caso dos cumprimentos, eu tinha de adotar um modo aggiornato4, mas fazendo transparecer nessa atitude tudo quanto eu queria. Para tal, eu deveria tirar da saudação a solenidade própria a um homem maduro – o que era normal em mim –, uma vez que não podia exigir reciprocidade dos outros meninos nessa matéria.
Assim, se não aceitasse nada de abrutalhado no meu interior, mas, pelo contrário, mantivesse as minhas reservas em relação à brutalidade, eu não pecaria, mas apenas daria uma boa jogada política.
Essa brutalização, portanto, deve ser entendida no sentido homeopático da palavra: resolvi adotar algumas gotas de brutalidade em minha exterioridade, diferentes da boa educação que havia recebido de mamãe e da Fräulein Mathilde; mas sem plebeísmo, sem brutalizar minha mentalidade e sem atingir o fundo do meu espírito, tendo sempre a preocupação de não me deixar contagiar por aquilo.
Uma hesitação
Por outro lado, eu era um menino muito expansivo, propenso a dizer gracejos e dar risadas, de modo leve, alegre e despreocupado, por temperamento natural e, talvez, pela inocência. Parecia-me que na ponta dessa despreocupação e dessa alegria desabrochavam certas flores do espírito e havia algum sabor que a seriedade não dava.
Entretanto, esse modo de ser supunha ter a atenção voltada para os aspectos engraçados da vida. E é preciso notar que, naquele tempo, a vida social em geral era menos frívola do que poderia parecer. Em certas conversas, por exemplo, no meio da futilidade tratavam-se assuntos dignos de nota e transpareciam matizes muito interessantes e cheios de bom gosto, nos quais se fazia sentir a influência europeia.
De maneira que tive uma hesitação entre esses dois modos de aproveitar a minha própria inteligência.
Porém, percebia que, em mim, a atitude de gracejo seria de tal maneira absorvente, que me tornaria incapaz de voltar a minha atenção para os aspectos mais sérios da existência. Ora, eu notava que o ambiente que me rodeava era feito de política, diplomacia, tática e velhacaria, como o mundo dos adultos. E entendi que tinha de prestar muita atenção no cerco movido em torno de mim, com todos seus artifícios, técnicas e jogadas, o que supunha longas e sérias reflexões, dentro das quais eu tinha de imergir, como num reservatório de dores, para o resto da vida, sob pena de trair a minha missão.
De outro lado, nas ocasiões em que eu fazia uso de certas fórmulas pitorescas, esperando que elas causassem bom humor e aumentassem a cordialidade das pessoas em relação a mim, diminuindo assim a hostilidade que tinham para comigo por causa de minha pureza, era recebido de modo glacial. Daí a pouco, um outro qualquer dizia uma piada vulgar, e todos riam contentes…
Eu pensava: “O que houve? Será que eu supervalorizei o que disse? Pode ser… Preciso prestar atenção. Ou será que eles subvalorizaram o que eu disse? Também pode ser…” E não levei muito tempo para perceber que existia uma subvalorização intencional.
Portanto, a minha face oficial, diante dos colegas, também não podia ser a do menino engraçado. Mais do que ser simpático, eu tinha de ser respeitado e, portanto, precisava limitar e coordenar a minha sociabilidade, renunciando a qualquer ilusão de que os outros viessem a me tratar bem.
Um pontapé no portão
Lembro-me bem da ocasião em que mudei de atitude.
Deliberadamente e sem consultar mamãe, comecei a entrar no colégio pisando duro, com fisionomia mais séria e decidida, ares menos afáveis, e cumprimentando os colegas de um modo diferente. Não tolerava que brincassem ou tivessem intimidades comigo e, se alguém me desse uma palmada nas costas, voltava-me e perguntava:
– O que é?!
Entretanto, eu graduava as minhas atitudes e, por exemplo, quando estava em casa com minha irmã5 e minha prima6, mas sobretudo com minha mãe, mantinha as maneiras suaves e amáveis de outrora. Quem me visse nessas ocasiões teria apenas a impressão de um menino alegre e satisfeito, muito ajuizado e de acordo com todas as regras.

Cartão escrito por Plinio à sua irmã Rosée, provavelmente na ocasião da entrega de um presente.
Por isso, nessa época não tive a menor noção de que Dª Lucilia houvesse observado minha mudança.
Passaram-se muitos anos. Certo dia, conversando com mamãe, no último período de nosso convívio antes de eu adoecer7, ela mencionou, com surpresa para mim, o grande susto e a apreensão que uma vez teve a meu respeito.
Então eu lhe perguntei:
– Qual foi essa preocupação, meu bem?
E ela me contou o episódio, assim como vou narrá-lo.
Nossa casa tinha um terraço que dava para o portão de entrada do jardim, o qual era feito de ferro, alto, grande e um pouco pesado para empurrar. E com certa frequência, quando a tarde era bonita, mamãe permanecia rezando nesse terraço durante cinco ou dez minutos, aproximadamente na hora em que eu voltava do Colégio São Luís. Levada por seu instinto materno, ela ficava à espera de minha chegada, desejando ver como era para mim a transição entre o mundo do colégio e da rua, e o ambiente da família.

Pintura representado a casa de Plinio. À direita a entrada principal.
Ela percebia que eu me comportava em tudo de acordo com a educação que ela e a Fräulein me haviam dado. Abria o portão com calma e compostura, e empurrava-o devagar, inclusive com certo esforço. Entrava no jardim e subia a escada de modo muito distinto, como menino ajuizado, o que a deixava satisfeita.
Entretanto, numa tarde, ela me viu chegar e notou, de repente, uma mudança brusca no meu modo de ser. Com certeza, esse foi por coincidência o dia em que eu havia adotado maneiras mais brutas.
Não me lembro da cena e provavelmente não vi mamãe no terraço, pois eu entrava despreocupado e não era do meu feitio olhar para verificar quem estava em cima, mas todos os pormenores que ela descreveu correspondem bem à minha atitude naquele período.
Entrei em casa com modos completamente diferentes, carregando a minha pasta de colégio, não na mão, como era o normal, mas nas costas, de qualquer jeito.
Em vez de abrir o portão com correção, empurrando-o pela maçaneta ou pelo trinco, virei-me de lado e abri-o com um pontapé. E, depois de entrar, fechei-o com um safanão de ombro, sem voltar-me para trás. Em seguida, subi os degraus da escada de dois em dois ou de três em três, batendo os pés com passo precipitado, duro e decidido, o que eu não fazia antigamente.
Apreensão materna
Ao ver-me tomar essas atitudes, mamãe quis verificar se eu tinha algo de urgente para fazer, uma vez que havia entrado correndo daquele modo. E, por fim, pensou: “Pronto! O que eu receava aconteceu! Consumou-se o desastre que eu reputava quase inevitável! O Plinio não é mais o mesmo. Já está igual aos outros! E ninguém sabe como isso vai continuar”.
Entretanto, como boa educadora, não me disse nada nessa ocasião, por achar que na minha atitude não havia modificações substanciais nem matéria suficiente para me manifestar a preocupação que ela sentia. E resolveu: “Não lhe direi nada! Vou esperar que faça algo de mau, para então corrigi-lo”.
Ela passou alguns dias apreensiva e amargurada pelo assunto, rezando muito e observando-me com grande atenção. Mas, com o tempo, verificou que essa mudança era apenas de superfície, pois o meu convívio em casa e as minhas notas de comportamento no colégio continuavam na maior normalidade. Assim, ela constatou com alívio e alegria que eu continuava o mesmo!
Evidentemente, mamãe não percebia que eu estava fazendo um jogo de manobra contrarrevolucionária calculada, nem podia imaginar essa atitude numa pessoa tão jovem! Entretanto, dei-me bem conta de que ela não teria feito a menor objeção contra essa resolução minha, se a conhecesse.
Nesse fatinho tão minúsculo, vê-se bem o quanto ela possuía sensibilidade e intuição materna para perceber essas mudanças.
O que receara ela, ao notar a minha transformação?
Com fina observação psicológica e com clara noção da maldade do mundo, notava que essas maneiras abrutalhadas eram próprias à mentalidade moderna. No fundo, temia que eu estivesse aderindo a um modo de ser que ela não saberia definir – pois não era uma intelectual – mas que era o espírito da Revolução, o qual me poderia levar a distanciar-me dela e, sobretudo, da Santa Igreja.
Souplesse e destreza
Esse procedimento trouxe certa vantagem para minha formação e encontrou alguma repercussão favorável em meu feitio categórico, mas, sobretudo, atenuou a oposição entre os outros alunos e eu, o que me parecia necessário para prevenir e cortar pela raiz a maledicência que eles poderiam levantar contra mim.
Mais de uma vez, estando apenas com dois ou três colegas, estes vinham por cima de mim com debiques, mas eu lhes respondia como uma fera! Eles agora encontravam um católico enérgico. O sistema realmente funcionava.
Entretanto, percebi desde logo que, se tudo isso não fosse acompanhado de muita souplesse8 e destreza, eu não obteria o que desejava. Precisava aprender também a me fazer pequeno, conforme a hora, pois, se eu não dominasse completamente o meu molejo interno, sofreria, já no colégio, a derrota de minha vida.
Assim, ao lado da ideia de valentia, de ousadia e de coragem, começava a se formar no meu espírito outra ideia, na aparência incompatível com a primeira, mas na realidade irmã dela: a prudência.
Eu começava a conhecer essa virtude e a entender a sua importância, mas devo dizer que, inicialmente, não era propenso de nenhum modo a praticá-la e inclusive antipatizei com ela, por duas razões desiguais. Em primeiro lugar, por ser em extremo expansivo, comunicativo e tendente a dizer com franqueza o que pensava e entendia, sem muitas voltas. Por feitio pessoal, o meu pensamento ia diretamente ao fim das coisas, de maneira que eu tinha desde logo comentários a fazer, na linha do afeto, mas também na linha da reprovação e da censura, com calma e sem raivinhas.
De outro lado, a atmosfera criada por minha governanta havia modelado meu espírito segundo a mentalidade militarista alemã, o que me levava a achar que a beleza estava, sobretudo, no rutilar das couraças, dos elmos e das espadas, ao sol da guerra. E tinha a ideia de que assim se devia enfrentar o mal.
Portanto, a prudência me causava uma reação semelhante à que eu tive quando vi uma tartaruga pela primeira vez em minha vida. Senti um choque e pensei: “Mas… esse animal, por natureza, carrega essa carapaça? E anda com esses passinhos? Isso é o contrário da epopeia e da gesta com que eu sonho!”
Prudência e arrojo
Entretanto, tomando contato com a Revolução, percebi como os maus eram astutos e o quanto era um dever meu sê-lo também. Comecei a prestar atenção nos astutos e, assim, passei a admirar a virtude da prudência.
Depois compreendi que ela contém quatro aspectos. O primeiro é extrínseco a ela, mas é a sua razão de ser: metas bem definidas. Os outros três elementos componentes são, antes de tudo, a observação meticulosa, minuciosa e atentíssima da realidade, nas suas menores dobras, para depois estudar as táticas a serem adotadas; o segundo é uma grande cautela – o que não significa medo, mas jeito e, às vezes, jeitinho9 – e o terceiro é a habilidade. Entendi que a prudência era o caminho para todas as vitórias, pois é o adorno da coragem, como esta é o ornato dela. O arrojo canta enquanto a prudência sussurra!
Nem sempre esse sussurro é agradável no seu primeiro som, mas, quando considerados os vários tons da prudência, percebe-se que ela executa uma música discreta, bela e agradável, muito mais do que o murmúrio de uma fonte. Ela pronuncia palavras de amizade e de acautelamento, que silvam como setas. O olhar da prudência percorre os espaços e faz o recenseamento dos perigos e dos inimigos, dizendo: “Cuidado! Olhe aquilo, olhe aquele… Você viu tal olhar? Notou tal reação? Sentiu tal sussurro, enquanto outros falavam? Pense! Reflita! Até onde levar o desafio e até onde levar a prudência? Como descobrir os pontos em que a consciência permite recuar, e aqueles em que a prudência permite avançar? Avance, recue, contemporize! Entre em cena quando deve! Saia da cena quando for preciso! Meça bem as suas palavras, para que cada uma delas seja uma pinguela segura, sobre a qual o arrojo tem de passar, guiado pelo Anjo da prudência!”
Ai da prudência sem arrojo! É frustração. Ai do arrojo sem prudência! É catástrofe. O arrojo temperado com a prudência e a prudência temperada com o arrojo dão o conjunto perfeito, cujo laurel final é a vitória.
Uma pedrada

Alunos do Colégio São Luís em 1922

Alunos do Colégio São Luís em 1922
Nesse período da afirmação de minha combatividade, uma experiência infantil veio, bem cedo, mostrar-me o quanto a diplomacia devia fazer parte da minha luta, e como eu precisava ter habilidade, jeito e jeitinho.
Qual foi esse episódio?
Havia em minha turma um colega, o qual foi muito conhecido depois, e de cujo aspecto me lembro até hoje. Era um menino de minha idade e mais ou menos de minha altura, muito branco, até pálido, parecendo feito de farinha de trigo. Um tanto gordo, com cabelos ralos e sedosos, cortados à escovinha, mas caindo sobre a fronte dele. Tinha uma fisionomia redonda, olhos pequenos e cortados, nariz plano, lábios proeminentes e voz fina.
Durante o recreio, por uma razão de que não me lembro, tive com ele certa implicância, na qual tenho a impressão de que não entrava em cena nenhum assunto contrarrevolucionário. A briga entre os dois cresceu e eu caçoei dele, que respondeu evasivo. Então, apanhei uma pedra grossa e joguei-a nele, à distância.
Havia naquele tempo um cuidado que os pais e os mestres recomendavam: durante as brigas, nunca atingir as têmporas de alguém, pois são muito sensíveis, e um golpe nessa região poderia causar a morte. Eu mesmo tinha ouvido esse conselho:
– Se houver uma briga, não dê murro nem atire pedra na fonte de ninguém, pois isso pode causar um mau resultado!
Ora, eu não tinha a menor intenção de matar esse menino! Mas nunca tive boa pontaria e a pedrada foi bater justamente na sua têmpora. Pensei que ele fosse pular em cima de mim e tivéssemos uma briga, mas, em vez de me mandar outra pedrada, por exemplo, ele disse:
– Upa! O que você me fez?
Fiquei desconcertado e pensei: “O que eu fiz? Transgredi um preceito caseiro muito importante! Mamãe me disse que uma pedrada na fonte pode ocasionar a morte. E agora? E se eu matei esse menino…? O que vai acontecer?”
Percebi que ele se tornou ainda mais pálido. Com muita calma, tirou o lenço e aplicou-o na parte ferida, cambaleando um pouquinho… Então, senti-me apavorado, estarrecido de horror, pensando: “Vai morrer!”
Mas ele veio calmamente em minha direção. Eu também me aproximei dele e perguntei-lhe:
– O que você tem?
– Aah! Uma dor medonha, aqui na cabeça.
– Você quer alguma coisa? Que eu fale com um Padre? Que chame um médico?
– Não sei se vai adiantar em algo…
Momentos de grande angústia e aflição
A pedrada não lhe tinha doído tanto, mas ele era velhaco como uma raposa, e continuou:
– Você me deu uma pedrada que pode me matar! Chegando a casa, vou mandar chamar o médico da família para me examinar, mas, se eu morrer, o culpado será você. E, se não morrer, posso ficar imbecil ou aleijado. Trata-se do meu futuro, mas também do seu, pois você poderá ser considerado um malfeitor a vida inteira, conforme eu escape ou não desta situação. E isto não vai permanecer impune, porque minha família conhece muito a sua. Portanto, se eu tiver de sofrer uma operação na cabeça por sua causa, antes vou contar isto aos meus familiares e o caso vai chegar logo aos ouvidos da sua família e de sua mãe. Você sabe bem o que Dª Lucilia vai achar dessa sua atitude! Vai ver o aborrecimento que ela terá, por você haver matado um homem.
Ele foi direto ao ponto mais sensível! Qualquer palavra ou censura de minha mãe pesaria enormemente para mim. Não sei como ele sabia do meu encanto por ela, mas aquelas palavras terríveis me deixaram suspenso entre céu e Terra! De fato, tive muito medo de que ele morresse, pois eu ficaria horrorizado por ter matado uma pessoa, mas, também, me era um suplício pensar que mamãe pudesse sabê-lo.
De fato, minha mãe era muito conhecida da dele, e a família dele também tinha ligação com certa senhora, a qual frequentava nossa residência.
Portanto, os pais dele tinham toda a liberdade de telefonar para minha casa e dizer:
– Olhe, o Plinio jogou uma pedra no menino e aconteceu isso e aquilo… Estamos esperando o médico. Rezem para que não seja nada.
Ora, quando eu chegasse a casa, a severidade de Dª Lucilia, de minha avó10 e de todo o resto da família seria ímpar! Eu podia imaginar o desacordo completo de mamãe a respeito dessa ação minha. Ela diria:
– Uma pedrada em tal menino? Onde se viu isso?! Você?!
E, se o menino morresse, creio que mamãe também morreria! O filho dela matar um homem…?!
Fiquei tão angustiado e aflito por ter feito aquilo, que nem ousei discutir com ele. Pedi-lhe desculpas e disse:
– Mas, olhe: quem sabe se não foi tanto!
– Ah, não! Por aí não venha! Estou sentindo tonturas e não sei o que vai me acontecer… Por enquanto não saiu sangue, mas vamos ver se sairá…
Cheguei a casa com o coração batendo na garganta e logo olhei para mamãe. Paz! Ao menos, até aquele momento, ninguém tinha telefonado, mas, qualquer ligação que houvesse, poderia ser da parte dele… Sendo minha família numerosa, o telefone tocava com muita frequência e, então, a cada vez, eu pensava: “Ai, ai, ai!”
Bem entendido, não contei a mamãe uma palavra sobre o assunto.
A primeira agonia da vida
No dia seguinte, chegando ao Colégio São Luís, a primeira coisa que fiz foi procurar esse menino. Ele estava com um lenço molhado aplicado na têmpora, andando normalmente. Eu o cumprimentei:
– Você como vai?
Ele se aproximou de mim e disse em francês:
– Mes tantes ont visité hier les vôtres11.
Eu pensei: “A primeira coisa que essas senhoras vão fazer é telefonar para casa e queixar-se com mamãe! Isto vai ser um drama!” E perguntei:
– Como você está se sentindo?
– Ah! Não sei o que estou sentindo, mas, enfim, estou mal! Sofri muito! Dormi mal!
– Mas, você não melhorou?
– Nem um pouco! Ainda me dói aqui. Fui ao médico.
– E o que disse o médico?
– Olhe, disse que é cedo para afirmar qualquer coisa. Mandou fazer um exame da cabeça e só amanhã vou saber o resultado.
Com muita ingenuidade e inexperiência, fiquei ainda mais apavorado e disse a ele:
– Amanhã você me conta como está.
Para abreviar, ele me levou na agonia, repetindo a cena durante uns quinze dias. Aparecia com o lenço, dobrava-o na minha presença, punha água nele e ia dizendo:
– Estou melhor…
Ou então:
– Estou pior. Sinto uma pressão na cabeça.
Afinal, depois de ter sentido pânicos de todos os jeitos, pareceu-me que o assunto estava demorando demais e deixei de procurá-lo. Ele percebeu que havia passado da conta e resolveu me dizer que eu podia estar sossegado, pois o médico afirmara que já não tinha nada.
Tive um alívio, mas, mesmo assim, receava que as tais senhoras, parentes do menino, de repente aparecessem em casa para visitar minha mãe, ou que minha avó as visitasse… Assim, o que eu sofri com esse caso foi inenarrável! Não se pode imaginar o que eu tinha de palpitação no coração, pensando no menino. Se a minha memória não me engana, essa foi a mais antiga aflição de minha vida; a primeira agonia. Depois viriam outras, incontáveis! Anos depois me dei conta de que esse meu colega não dizia a verdade, mas que estava me passando uma rasteira, aproveitando-se de minha situação e fazendo uma pressão moral sobre mim para me atormentar.
Então pensei: “Está vendo? Grande lição para o futuro: ser muito forte de alma, mas saber descobrir os velhacos e, também, não jogar pedra em lugar errado! Não há coisa pior do que uma violência praticada de modo errado, pois, quem leva o pior da pedrada não é o que a recebe, mas quem a atira! Portanto, prudência e calma, olho vivo, esperto e jeitoso!”
E nunca me esqueci do caso daquele menino.
As técnicas da respeitabilidade
No ambiente do colégio entrava em cena contra mim um inimigo que não era apenas a ofensiva direta, a invectiva brutal ou a contestação rotunda e furiosa da minha posição, mas sobretudo a caçoada. E não somente o riso de um, dois ou três, mas a gargalhada em coro, a qual continha no fundo uma afirmação doutrinária, mas não apresentava um argumento lógico…
Eu tinha de ostentar no meu modo de ser tudo quanto pudesse haver de bom nas categorias prestigiadas. Por exemplo, sem tomar ares de frivolidade – o que seria pactuar com o mal – devia deixar transparecer e fazer valer de que família eu era e quais recursos possuía. Porém, como esta não era muito rica, mas apenas abastada, eu não podia figurar com tanto brilho quanto a opinião dos alunos pediria, para desenvolver inteiramente essa política.
Acima de tudo, queria conservar aos olhos de todos a imagem de uma pessoa fiel ao bem, de tal maneira que se percebesse que eu era católico e puro. Portanto, nunca devia dizer uma palavra inconveniente, nem rir de algo imoral, deixando transparecer qual era a minha conduta, mas tomando o cuidado de não entrar numa luta declarada, que determinasse o desabamento de uma tempestade contra mim.
Então pensava: “Além de não fazer nenhuma concessão a eles, também devo evitar qualquer provocação que possa excitá-los. Porém, o que é provocação? Como evitar aquilo que provoca? Quais são as atitudes que mais causam irritação? Quais as expressões que mais convidam à gargalhada? Do que está rindo aquele? Por que está rindo aquele outro? Quais são os focos do riso e como ele se propaga? Como prevenir a risada?”
Começava a conhecer a triste e infame estratégia da gargalhada, e pensava: “Contra as técnicas do riso, trata-se de impor o respeito, sem fingir nada, mas mostrando lados de alma autênticos. Como fazer isso? Tudo tem que começar pela observação… Quais são os homens que há em torno de mim? Essa meninada do meu tempo não é exemplo para nada, pois está sob a influência do cinema… Preciso ver como eram os homens das gerações anteriores!”

Um casal do tempo dos avós de Plinio: “Como os antigos eram respeitáveis!”
Lembrando-me do aspecto de certas pessoas do tempo de meus avós, refletia: “Como os antigos eram respeitáveis! Que expressões de fisionomia! Que modo de falar, que modo de gesticular! Eles espalhavam a respeitabilidade em torno de si. Mas, também, como foram os homens que aparecem nos livros de História e que meteram medo no mundo? Pelas suas fisionomias, tenho de entender como eram as almas deles, e de que modo enfrentavam as dificuldades… Então, desses e daqueles tenho de aprender a teoria do amedrontar e do desdenhar, mas, sobretudo, as técnicas mais altas e nobres da respeitabilidade… De tudo isso, o que é adaptável para um menino de minha idade, sem cair no ridículo? O que pode ser praticado, sem entrar num tal choque com o ambiente, que provoque uma luta para a qual no momento não tenho forças? Qual é a dosagem exata do máximo de respeitabilidade necessária, com o mínimo para não passar além de certo limite e não entrar num choque, o qual não me convém? Como cumprimentar uma pessoa, mantendo-a a distância e ao mesmo tempo sendo amável? Como manifestar amabilidade, de maneira que o indivíduo a quem eu sorrio compreenda que é melhor sorrir também, para evitar problemas? Como replicar a um desaforo? Como me impor, para ser respeitado e temido?”
Quanto trabalho! Quanta experiência, reflexão e coordenação tudo isso exigia! Tive de aprender a guiar-me a mim mesmo, como o comandante que guia um avião. Era obrigado a cultivar o meu próprio solo com o suor do meu rosto12, ou seja, extrair soluções do meu próprio espírito, com muita dificuldade.
Amabilidade cerimoniosa
Então, em determinado momento, compreendi: eu devia ter uma gentileza atraente e um cuidado muito exato em fazer com naturalidade todas as pequenas atenções que coubessem entre meninos, com uma afabilidade um tanto maior da que eles tinham uns com os outros. Uma espécie de “ofensiva de flores”, as quais deixariam mal os outros, se não as retribuíssem; que tirariam ao adversário a garra para atacar, como se eu dissesse: “Qualquer falta de cortesia de sua parte me dará o direito de reagir. Farei tudo para evitar pequenas brigas, mas, cuidado! Se houver uma provocação, a encrenca será grossa, e estou disposto a correr qualquer risco! Não mexam comigo, pois vocês vão ver! Se eu for vítima de uma agressão, poderá ser que não vença, mas não me entregarei e quebrarei o meu adversário também! Ele precisará fazer tais violências para levar a melhor sobre mim, que terá de cometer um crime!”
Esse era apenas um dos elementos. Além disso, devia manter-me sempre sério, digno e cerimonioso, tratando os outros com certa distância, de cima e com um relativo sorriso, de maneira que eles não sentissem intimidade e não tivessem meio de me abordar, pedindo explicações que eu não quisesse dar.
Era o modo de um menino ser cerimonioso, sem dar a ideia de um doutorzinho. Assim ia florescendo a habilidade, filha da prudência…
Isolamento e bloqueio

Alguns colegas de Plinio no Colégio São Luís
Desse modo, por minha atitude, eu consegui pelo menos que não fizessem contra mim uma caçoada geral e um escárnio coletivo.
Mas, como me pagavam os colegas?
Eles não se incomodariam se eu fosse um menino com o ar anacrônico de um velho prematuro, um “tabelião de grave aspecto” – como se dizia na época –, uma pessoa que se havia fossilizado por amor à tradição e já não entendia o acontecer presente. Mas contestavam e odiavam a síntese que eu representava, a ponto de não poder suportá-la: a seriedade cortês, mas batalhadora, de quem não vive lutando em face do presente, mas na previsão do futuro!
Então, eu não era agredido nem recebia desaforos – uma vez que o meu procedimento não se podia censurar –, e os colegas evitavam os temas inconvenientes quando eu entrava nas conversas, mas, por outro lado, era objeto de uma vindita de caráter individual: um amável e gelado isolamento. Sentia como se houvesse um compromisso de quase todos os meninos em torno de mim, para me bloquear e me pôr à margem, e percebia que eles faziam cochichos a meu respeito. Quando me encontravam, diziam “bom dia” com certa urbanidade e estava acabado. Não era procurado por quase ninguém e passava os recreios isolado. Era uma verdadeira campanha de silêncio, uma excomunhão muda. Eu estava isolado no meio dos conhecidos.
Nos dias em que não havia aulas, os meus colegas iam juntos para distrações e passeios, mas nunca me pediam que os acompanhasse. Nos aniversários deles, as famílias lhes ofereciam uma lauta mesa de doces, com chocolate, creme chantilly e toda espécie de delícias, para os amigos que quisessem chamar. Eles então se convidavam:
– Você não quer ir a minha casa em tal dia? É meu aniversário!
Grande número deles era de famílias muito relacionadas com a minha, mas nunca fui convidado para uma festa de aniversário por um colega.
Quase todos eram filhos de fazendeiros e, quando chegavam as férias, os pais estimavam que os filhos levassem à respectiva fazenda vários colegas ou parentes, a fim de formar uma grande roda de amigos. Eles se telefonavam mutuamente para organizar essas excursões e, às vezes, combinavam entre si, diante de mim, dizendo uns para os outros:
– Venha passar um tempo na minha fazenda!
Então, um grupo de colegas ia à fazenda de algum deles e, depois, à de um outro, para prolongar um convívio entretido. Iam também, por exemplo, à casa que a família de um terceiro possuía no litoral – em Santos ou Guarujá – ou nas montanhas, em Campos do Jordão. Mas eu jamais era convidado para nada e ninguém me telefonava – nem por cerimônia – e todos me tratavam como se não existisse. Era o mau companheiro, cuja presença os deixava mal à vontade; o alienígena, o grande diferente, o desmancha-prazeres, o colega casto, piedoso e cerimonioso, que estragaria a excursão deles, pois não dizia palavras impuras e tornaria a conversa impossível.
Terminadas as férias, eles conversavam uns com os outros:
– Estive em casa de Fulano.
– Eu fui à fazenda de Sicrano.
– E eu levei tais e tais colegas à minha fazenda.
Eu, entretanto, tinha passado as minhas férias isolado.
Algumas vezes convidei grupos de meninos para a minha casa, mas eles nunca me retribuíram. Em cinco anos de curso secundário nunca fui convidado pelos colegas para nada!
Estava cercado por uma espécie de muralha de vidro, a qual equivalia a uma ameaça, como se dissessem: “Você está só, e assim ficará até o fim dos seus dias, pois se pretender ser, como homem maduro, o que você é como menino, será sempre um pária na Terra, o perpétuo exilado, pois ninguém quererá saber de você para nada!”

Campos do Jordão, no Estado de São Paulo
Portanto, a minha atitude de menino que se fazia respeitar era uma cruz permanente. Eu pensava: “É muito desagradável essa situação, mas nem por isso vou trair os meus ideais!”
Precisava manter-me sempre altivo e amável, sem zangar-me, sem ostentar o que eu pensava e fingindo que não dava importância à minha solidão.
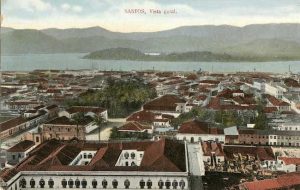
A cidade e o porto de Santos
Mas, o que poderia fazer, isolado como um leproso? É verdade que eu tinha vários parentes que se relacionavam comigo e aos quais me impunha, o que me dava uma espécie de establishment13, não brilhante, mas razoável.
Entretanto, entendi que devia tirar de mim mesmo recursos de perspicácia, de energia e de amabilidade, para fazer mais amizades e relações, e não ser murado vivo. Tinha de disputar para mim um lugar ao sol, neutralizar a política de silêncio velhaco que se fazia contra mim e constituir assim uma roda de amigos, que fossem a base para o meu apostolado.
Ora, como poderia eu influir num ambiente de onde era excluído? Como encontrar uma posição de equilíbrio, na qual, sem ceder à mentalidade dominante, conseguisse interessar e atrair?
Análise da atitude dos colegas
Durante os recreios, eu estava na divisão dos médios e, portanto, tinha certa facilidade para observar os colegas mais moços, como também os mais velhos. Então, discretamente, comecei a estudar melhor a situação e a analisar como eles se relacionavam.
Com algum senso psicológico, fazendo a análise de quase todos os meus colegas, dava-me conta de que muitos deles, na idade em que estavam, ainda eram salváveis para a luta a favor do bem. Pensava: “Este, aquele e aquele outro, para que coisas magníficas dariam! O que seriam os alunos de minha classe, de minha turma, se quisessem ser como eu! Vários desses estariam muito à minha frente e me deixariam longe, e eu os admiraria na alegria de minha alma! Mas, eles não querem e vão afundando, afundando…”
Por que se deixavam arrastar pela Revolução? Na infância, no tempo da inocência, eles tinham conhecido muita coisa maravilhosa, mas pouco se haviam incomodado… O resultado era que, quando encontraram o contrário daquela inocência, perguntaram-se até que ponto este lhes convinha. E, de fato, preferiram esse contrário, pois não tinham amado o maravilhoso anterior.
Massacre da inocência

Depois de analisar muito, percebi também que todos os alunos constituíam pequenos grupos autônomos, cada um com dois ou três chefes, não eleitos, mas seguidos em suas opiniões, os quais eram sempre os animadores da imoralidade e da “hollywoodização”. Esses chefetes constituíam uma minoria difusa, que se articulava e se entendia, “hipnotizando” e arrastando os demais no sentido do mal.
Também notei o seguinte fenômeno, que me chamou a atenção: quando eu estava com um só dos meus colegas, o valor moral dele transparecia em boa medida. Porém, quando eu estava com ele e mais outro, esse valor se reduzia à metade, e, nas ocasiões em que o encontrava com mais três outros, o valor decaía para um terço. Se fossem dez, sobraria uma décima parte, e, em meio a uma multidão, o valor estava reduzido a uma migalha.

Alunos do Colégio São Luís em 1921. Ao centro Plinio Correa de Oliveira
Portanto, quanto mais o menino estava rodeado por outros de sua mesma mentalidade, tanto mais ele se diminuía. No fundo, estavam divididos entre as boas tendências, pelas quais afinavam comigo, e as más, que os aproximavam dos líderes. Não tinham coragem de romper com estes, e assim, ninguém se atrevia a manifestar os seus aspectos bons, mas apenas mostrava o seu lado mau. Era uma espécie de convenção tácita, em virtude da qual os defeitos de cada um recebiam o aplauso de todos, enquanto o aspecto bom causaria a censura – muda ou fulminante, conforme o caso – de todos os outros também.
De maneira que a ação coletiva do conjunto deles sobre cada indivíduo era muito pior do que a soma verdadeira dos defeitos de cada um, isoladamente. Por isso, quando estavam juntos eram piores do que a sós.
No fundo, eram movidos por um princípio que parecia dizer: “Você tem alguma qualidade, mas, nas almas de todos os outros, essas qualidades morreram e, portanto, você não encontrará repercussão em nenhum deles, se a manifestar. Quer ter a prova? Mostre esse lado bom, para ver como você será atacado! Logo, fique quieto! E, depois, desanime, pois não há no mundo expansão possível para sua virtude! Você apenas tem duas soluções: ser trucidado por seu ambiente e levar uma vida pior que a de perseguido, ou sufocar esse seu lado bom, para poder transitar!”
Eu poderia dizer a eles: “Você, você e todos nós possuímos lados bons! Portanto, associemo-nos!” Entretanto, eles continuariam tendo a ilusão de serem poucos, com risco de serem arrasados pela maioria, a qual eles imaginavam maciçamente revolucionária. Assim, não teriam coragem de me seguir.
Então, cheguei à seguinte conclusão: “Se os chefes saíssem do São Luís, essa pressão cessaria e, no dia seguinte, os alunos da minha divisão deixariam de me hostilizar. Com o tempo, apreciariam algumas qualidades que possuo e eu obteria a adesão de um bom número deles”.
Difícil tarefa diplomática
Portanto, eu não devia confundir os chefetes e a massa, na minha atitude de desacordo. Em primeiro lugar, não deveria fazer meu apostolado com os primeiros, pois seria inútil, uma vez que eles não me aceitariam. Em segundo lugar, resolvi iniciar um regime de simpatia em relação aos que não eram chefes, em especial os membros mudos das rodinhas, os quais seguiam os líderes sem grande interesse e eram menos intensamente revolucionários, procurando acentuar neles as tendências afins comigo.
Entretanto, percebia que, se expusesse todas as minhas ideias a qualquer um daqueles meninos, produziria nele uma grande cristalização14, pois ninguém pensava como eu. Logo, precisava ter um convívio mais íntimo e cordial com alguns, por uma razão qualquer, porém mantendo em relação a esses a distância necessária para que eles não se abrissem comigo a respeito dos pontos de divergência entre os revolucionários e eu.
Foi uma tarefa diplomática verdadeiramente difícil que eu tive de preparar passo a passo.
Guerra de tendências
Mas, como agir com os chefes? Quando eles percebessem que eu procurava os amigos deles, sentir-se-iam roubados. Deveria tratá-los exatamente como eles me tratavam, ou seja, com frieza. Eu notava que eles incitavam os outros a me congelarem ainda mais do que eles próprios me congelavam, mas fingia não perceber o jogo, e estabeleceu-se algo à maneira de uma cortina de ferro entre eles e eu, sem bombardeios de um lado ou de outro. Era uma espécie de armistício, de silêncio diplomático ou de paz armada; tensão muda com aparência de normalidade, como se eles dissessem: “Está bem, você venceu essa partida! Não levaremos a tensão até a explosão, mas continuaremos fazendo o vazio ao seu redor”.
Então, eles não comentavam o “fato Plinio” e eu não os invectivava, pois compreendia que, se o fizesse, perderia a oportunidade de fazer apostolado. Entretanto, se eles me interpelassem, eu devia responder com coragem, nariz alto, voz clara e positiva, e olhando bem de frente nos olhos deles.
Inaugurava-se uma espécie de xadrez humano, cujo tabuleiro era o ambiente do colégio; uma verdadeira guerra psicológica, raciocinada e política, entre a Revolução e a Contra-Revolução, para conquistar os que constituíam a “terra de ninguém”, ou seja, os semicontrarrevolucionários15. As tendências dos dois campos opostos se enfrentavam, armadas como exércitos e disfarçadas pelas regras de educação, o que os alunos revolucionários percebiam tanto como eu.
Então, passei a desenvolver inúmeras tentativas de apostolado, criando condições que me permitissem começar a “pescaria” e utilizando-me de alguns meios, dos mais elementares.
1 José Gonzaga de Arruda ingressou no Colégio São Luís em 1918, no Curso Elementar. Em 1920, foi colega de turma de Plinio.
2 Sacerdote responsável por uma divisão de meninos no colégio.
3 Em francês: doçura de viver. Expressão geralmente utilizada para designar o teor de relações existente na França, no período do Ancien Régime.
4 Em italiano: atualizado, na moda.
5 Rosenda Corrêa de Oliveira (Rosée).
6 Ilka, filha de Nestor Barbosa Ferraz e de Brasilina Ilka Ribeiro Barbosa Ferraz (Zili), irmã de Dª Lucilia.
7 O Autor se refere à grave crise de diabetes que sofreu em 1967.
8 Em francês: agilidade, flexibilidade.
9 Expressão tipicamente brasileira. Segundo comentários do próprio Autor, o jeitinho poderia ser definido como a destreza pela qual alguém resolve certos problemas quase insolúveis, com pouco esforço, de modo original, improvisado, ágil, rápido e tranquilo, no momento adequado, sem ruído nem ostentação. Essa destreza obtém resultados inesperados, aparentemente sem proporção com os meios utilizados, pois triunfa às vezes num pequeno gesto, num movimento de dedos, num golpe de olhar, no canto de um sorriso ou na gravidade de um cumprimento.
10 Gabriela Ribeiro dos Santos.
11 “As minhas tias visitaram ontem as suas tias”.
12 Cf. Gn 3, 17-19.
13 Em inglês: status na sociedade.
14 O fenômeno físico da cristalização, pelo qual determinado corpo – como o sal dissolvido – passa do estado líquido ao estado de cristal, era frequentemente citado por Dr. Plinio à maneira de parábola, para explicar o processo pelo qual os sentimentos ou as ideias podem fixar-se em determinada pessoa, de modo súbito. No caso da presente narração, entende-se que ele temia causar nos colegas uma reação contrária aos princípios por ele defendidos, se os expusesse com clareza antes de uma adequada preparação.
15 Segundo a definição de Dr. Plinio, em sua obra Revolução e Contra-Revolução, os semicontrarrevolucionários são, em alguns casos, espíritos marcados pela Revolução, os quais “poderão talvez, por um jogo qualquer de circunstâncias e de coincidências, como uma educação em meio fortemente tradicionalista e moralizado, conservar em um ou muitos pontos uma atitude contrarrevolucionária”. (Corrêa de Oliveira, Plinio. Revolução e Contra-Revolução. São Paulo: Editora Retornarei, 2002, p. 83.)











Deixe uma resposta